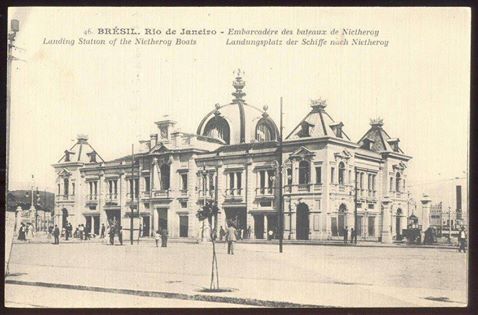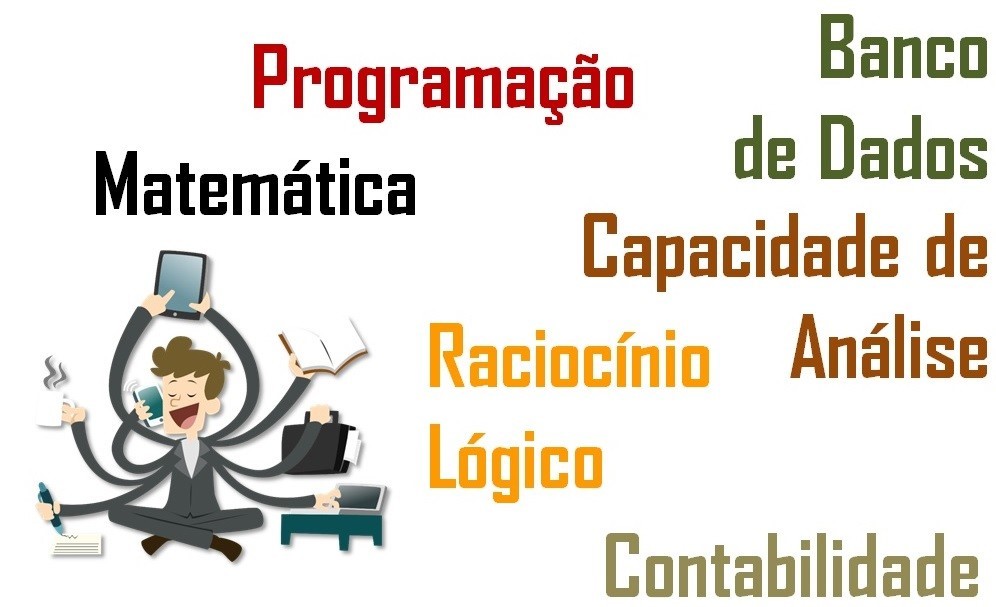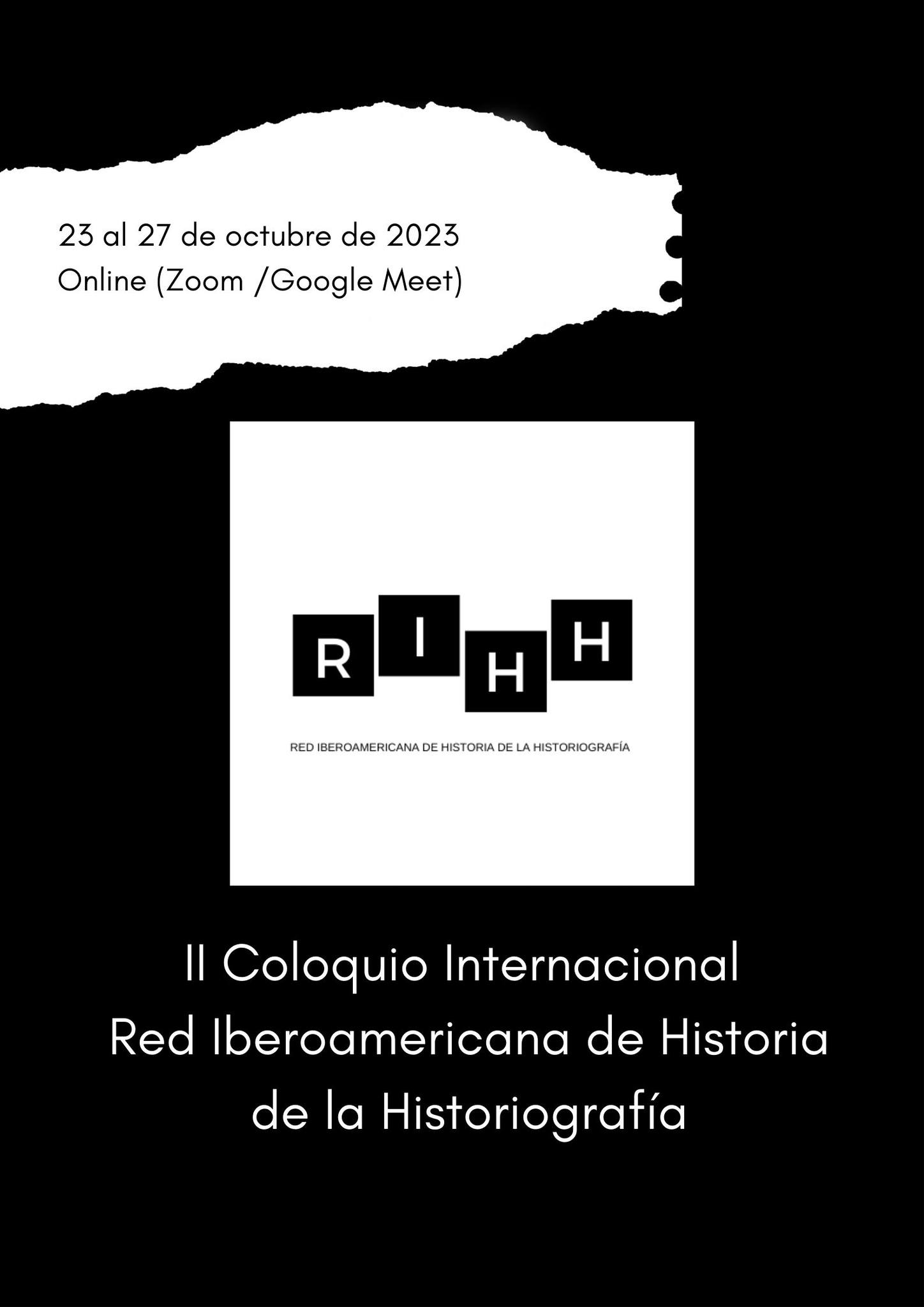Monumentos brasileiros são iluminados em razão do bicentenário de episódio histórico
Cristo Redentor e MAC-Niterói ganharam iluminação celeste em homenagem à Independência do Uruguai
🕒 Tempo estimado de leitura : 4 minutos
Na última segunda-feira, 25 de agosto, em razão dos 200 anos da Independência do Uruguai, dois importantes monumentos brasileiros foram iluminados com o azul celeste para homenagear o país vizinho: o Cristo Redentor e o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), projetado por Oscar Niemeyer.
O monumento carioca foi iluminado na sexta, 22 de agosto, e a ação foi fruto de parceria entre o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, a Embaixada do Uruguai no Brasil e o Consulado Geral do Uruguai no Rio de Janeiro.
- Obtenha no site da UFF a tese de doutorado do historiador Fábio Ferreira e saiba como o “Uruguai” uniu-se ao Brasil. Clique aqui.
O MAC ficou celeste no dia 27, em razão de parceria entre o consulado uruguaio e a prefeitura de Niterói, sendo importante lembrar que a antiga capital fluminense e Canelones (cidade do Uruguai a 45km de Montevidéu) se tornaram cidades irmãs em março deste ano. Em dezembro, em solo niteroiense, haverá a 30ª Cúpula do Mercocidades (Associação de Cidades do Mercosul). Em 2026, Niterói presidirá o mencionado grupo.
A Independência do Uruguai

Em 1825 houve o Congreso de La Florida, no interior do território que é hoje o Uruguai. Nele, no dia 25 de agosto, os representantes de diversas áreas da então Província Cisplatina, à altura parte do Brasil, fizeram duas importantes declarações: a de anulação de sua união ao Império de Pedro I e a de sua reincorporação às demais províncias argentinas, ou seja, às Províncias Unidas do Rio da Prata, com capital em Buenos Aires. Em dezembro, o imperador brasileiro declarou guerra aos portenhos, conflito que durou até 1828 e contribuiu para a sua queda em 1831.
Série de lives
Em razão dos bicentenários da emancipação uruguaia e da primeira guerra externa do Brasil independente, a Revista Tema Livre iniciou, no dia 20 de agosto, a série de lives dedicada ao assunto. O primeiro convidado foi o Prof. Dr. Fábio Ferreira. Como de praxe, a publicação receberá em seu canal do YouTube pesquisadores de diversas instituições que realizam investigações acadêmicas dedicadas ao assunto para debater a Cisplatina.
Cite a matéria corretamente:
REVISTA TEMA LIVRE. Monumentos brasileiros são iluminados em razão do bicentenário de episódio histórico. Niterói, 28 ago. 2025. Disponível em: https://revistatemalivre.com/monumentos-brasil-independencia-uruguai Acesso em: [colocar a data].
Assista à 1a live da série
Se inscreva no canal da revistatemalivre.com no YouTube clicando em:
https://youtube.com/@revistatemalivre
Perguntas Frequentes (FAQ)
Por que o Cristo Redentor e o MAC-Niterói foram iluminados em azul celeste?
A iluminação foi uma homenagem aos 200 anos da Independência do Uruguai, celebrada em 25 de agosto de 2025.
Qual a relação entre Niterói e o Uruguai?
Niterói e Canelones se tornaram cidades irmãs em março de 2025. Além disso, Niterói sediará em dezembro a 30ª Cúpula do Mercocidades e em 2026 presidirá a associação.
O que foi a Guerra da Cisplatina?
A Guerra da Cisplatina (1825–1828) foi o primeiro conflito externo do Brasil independente. Teve início em 10 de dezembro de 1825.
Como foi a atuação indígena na Cisplatina? Leia o artigo do Prof. Dr. Fábio Ferreira (UFF) publicado no projeto Indígenas na História (Associação Nacional de História/ANPUH) clicando aqui.
Saiba mais sobre o Uruguai no site da revistatemalivre.com:
Clique aqui e saiba como o “Uruguai” passou a fazer parte do Brasil: a criação da Cisplatina.
Saiba mais sobre Artigas, o principal herói nacional uruguaio.
Conheça os detalhes da Guerra da Cisplatina clicando aqui.
Sugestão de leitura (artigo): Sequestros e tráfico de escravizados na fronteira Brasil x Uruguai.
Leia a entrevista com a Prof.ª Dr.ª Ana Frega (Udelar), realizada em Montevidéu, sobre a História do Uruguai.
Saiba mais sobre a Cisplatina:
– Artigo acadêmico “A Armada Imperial e o Estado Cisplatino Oriental no contexto da construção dos Estados Nacionais na América do Sul (1822 – 1824)” editado na Revista Navigator: https://www.portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/navigator/article/view/5584
– Artigo acadêmico “Da América Espanhola à Portuguesa: aspectos políticos e administrativos
do Estado Cisplatino Oriental no contexto das Independências” na Revista Contraponto. Clique em: https://revistas.ufpi.br/index.php/contraponto/article/viewFile/14489/8706
Sugestões de leitura:
– Capítulos de livros:
FERREIRA, Fábio. O 1808 português e espanhol e os seus desdobramentos na Banda Oriental do Rio da Prata. In: ORTIZ ESCAMILLA, Juan; FRASQUET, Ivana (Orgs.). Jaque a la corona: la cuestión política en las independencias ibero-americanas. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I/Servei de Comunicació i Publicacions, 2010.
_____________. A participação de índios e negros no exército português: o caso da Cisplatina. In: TAVARES, Célia; RIBAS, Rogério (Org.). Hierarquias, raça e mobilidade social. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2010.
Acesse a seção Notícias da Revista Tema Livre: clique aqui.
Confira a edição atual da Revista Tema Livre clicando aqui.
Gostou do conteúdo? Ajude a divulgar esta história! Compartilhe:
A decisão do governo Trump de elevar tarifas contra produtos brasileiros retoma 200 anos de relações entre Brasil e Estados Unidos, marcadas por alianças estratégicas, disputas comerciais e redefinições geopolíticas.
Da redação.
![]() Tempo estimado de leitura: 7 minutos
Tempo estimado de leitura: 7 minutos
O novo pacote de tarifas norte-americanas sobre produtos brasileiros, anunciado em julho de 2025 pelo governo de Donald Trump, reacendeu tensões político-diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. As medidas afetam relevantes setores da economia brasileira, como o agronegócio e a siderurgia, sendo que o episódio expõe também a assimetria persistente entre os dois países mesmo após dois séculos de relações formais.
O início: Brasil Império
Os Estados Unidos foram um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil. O fez em 1824, antes da Inglaterra e de Portugal. Em linhas gerais, ao longo do século XIX, o Império via os EUA com certa reserva, mas também pragmaticamente como alternativa à hegemonia europeia.
- Leia o artigo do historiador Fábio Ferreira: Além do Ipiranga: uma história muito mais complexa da Independência
A República e a aproximação estratégica

Com a proclamação da República em 1889, o Brasil passou a olhar os EUA como referência institucional, inclusive o país sul-americano adotou a designação Estados Unidos do Brasil. A inspiração no modelo federativo norte-americano foi igualmente visível na Constituição de 1891.
A nova ordem republicana reforçou os laços comerciais e diplomáticos, mas o relacionamento permaneceu baseado em interesses pontuais. Além disto, não anulou-se a influência europeia em outros âmbitos da sociedade. Como exemplo, diversas cidades brasileiras foram remodeladas inspiradas em Paris, basta lembrar-se da reforma Passos no Rio de Janeiro, ainda que no início do século XX tenha havido uma aproximação estratégica com os estadunidenses, vistos como contrapeso à influência britânica.
- Saiba mais sobre a influência francesa no Brasil e a Bellé Époque clicando aqui.
A Segunda Guerra Mundial e a industrialização brasileira
Durante o Estado Novo (1937 – 1945), Getúlio Vargas utilizou a rivalidade entre a Alemanha e os EUA para negociar vantagens para o Brasil. Neste contexto, surgiram acordos como o que resultou em empréstimo norte-americano ao governo brasileiro para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional (CNS), em Volta Redonda, no interior do Estado do Rio de Janeiro. O envio da Força Expedicionária Brasileira (FEB) à Europa reforçou o papel do país como aliado estratégico. Ao fim da guerra, os EUA exerceram papel central no redesenho da ordem internacional — e o Brasil buscou, com ambivalência, manter seu espaço nesse novo cenário.
Crises e tensões durante a Guerra Fria
Ao longo da Guerra Fria (1947 – 1991), os Estados Unidos intensificaram sua presença política, econômica e militar na América Latina. Um dos episódios que merece destaque foi o apoio estadunidense ao golpe de 1964: diante da percepção de que o governo de João Goulart flertava com setores da esquerda latino-americana, os EUA passaram a considerar sua deposição. Durante a chamada Operação Brother Sam, embarcações militares foram mobilizadas para oferecer suporte logístico aos golpistas brasileiros — embora não tenham sido efetivamente utilizadas, pois Goulart não resistiu. O apoio diplomático e econômico estadunidense veio em seguida, com o reconhecimento imediato do governo militar recém instalado e envio de recursos financeiros para a economia brasileira.
- Resistência armada evitou golpe militar em 1961. Saiba mais clicando aqui.
Na década de 1970, a política externa estadunidense sob a presidência de Jimmy Carter colocou nova pressão sobre o Brasil. A defesa dos direitos humanos tornou-se prioridade, e o regime militar brasileiro passou a ser alvo de denúncias formais. Os EUA tentaram, ainda, interferir no acordo nuclear firmado entre o Brasil e a Alemanha, que resultou na construção da Usina de Angra dos Reis, no litoral fluminense. O desconforto gerado levou o governo brasileiro a romper unilateralmente um acordo militar de cooperação com os EUA, em um dos pontos mais agudos da crise diplomática entre os dois países naquela década.
O papel dos EUA durante a ditadura segundo James N. Green

Em entrevista concedida à Revista Tema Livre durante o XXII Encontro Nacional de História, o historiador norte-americano James N. Green destacou o papel de acadêmicos, ativistas e clérigos dos EUA na denúncia da repressão no Brasil. Segundo o brasilianista:
“Esses acadêmicos e clérigos montaram um comitê para denunciar internacionalmente a tortura e a repressão no Brasil. […] Colocaram avisos pagos no New York Times denunciando, por exemplo, a prisão do Caio Prado Júnior em 1970, tentando criar uma nova imagem do Brasil.”
Green também relembrou a atuação de parlamentares norte-americanos, como o senador Frank Church, que realizou uma CPI em 1971 sobre o apoio dos EUA a regimes que violavam direitos humanos. Segundo o historiador, essa articulação teve impacto político em Washington e contribuiu para pressionar o governo brasileiro.
Leia a entrevista completa com o Prof. Dr. James N. Green clicando aqui.
Espionagem no século XXI
Em 2013, veio à tona outro episódio de forte desgaste nas relações entre os dois países americanos. Documentos vazados por Edward Snowden revelaram que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) espionava autoridades brasileiras, incluindo a então presidente Dilma Rousseff. A revelação gerou crise diplomática imediata: a presidente cancelou uma visita oficial aos EUA, e a confiança mútua foi severamente abalada. A normalização das relações só viria dois anos depois, nos momentos finais do governo Obama, por meio de canais diplomáticos discretos.
Tarifas de 2025: uma reedição de velhas assimetrias
A imposição de novas tarifas pelo governo Trump contra produtos brasileiros, em 2025, reacende debates antigos sobre dependência econômica, vulnerabilidade comercial e assimetrias estruturais entre Brasil e Estados Unidos. O gesto político, embora recente, está inserido em um padrão histórico que combina cooperação estratégica com disputas por espaço e influência. A história das relações entre os dois países é marcada menos por consensos duradouros e mais por reconfigurações periódicas, à medida que os contextos regionais e globais se transformam.
📌 Perguntas Frequentes (FAQ)
Quando os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil?
Os EUA reconheceram a independência do Brasil em 1824, antes de Portugal e da Inglaterra.
O que foi a Operação Brother Sam?
Foi uma operação de apoio logístico dos EUA ao golpe de 1964, com embarcações posicionadas para auxiliar os militares brasileiros, embora não tenham sido usadas.
Quais foram os impactos da política de Jimmy Carter nas relações com o Brasil?
Durante seu governo, os EUA pressionaram o Brasil por violações aos direitos humanos e questionaram acordos nucleares com a Alemanha.
O que gerou a crise diplomática durante o governo de Barack Obama entre Brasil e EUA?
A revelação de que a NSA espionava autoridades brasileiras, incluindo a presidente Dilma Rousseff, provocou uma grave crise diplomática.
O que motivou a imposição de tarifas contra o Brasil pelo governo Trump em 2018?
Em 2018, o governo Trump impôs tarifas sobre o aço e o alumínio brasileiro alegando preocupações com segurança nacional, num contexto de política protecionista.
O que são as tarifas EUA Brasil 2025?
Tarifas de 50% para a importação de diversos produtos brasileiros. A decisão foi interpretada por analistas como parte de uma estratégia de pressão econômica e política.
Como o Brasil reagiu oficialmente às medidas de Trump?
O governo brasileiro apresentou notas diplomáticas de protesto, buscou negociação bilateral para reversão das tarifas e notificou o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC), argumentando violação de acordos multilaterais.
Cite a matéria corretamente:
REVISTA TEMA LIVRE. Relações Brasil–EUA: 200 anos entre disputas e alianças. Niterói, 23 jul. 2025. Disponível em: https://revistatemalivre.com/relacoes-brasil-eua-200-anos-disputas-e-aliancas/ Acesso em: [colocar a data].
Gostou do conteúdo? Ajude a divulgar esta história! Compartilhe:
Shorts da Revista Tema Livre: Israel vs Irã: saiba como começou a rivalidade em menos de 1 minuto.
Para mais história:
Se inscreva no canal da Revista Tema Livre no YT:
https://youtube.com/revistatemalivre?sub_confirmation=1
Assista
Leia:
Acesse a seção Notícias da Revista Tema Livre: clique aqui.
Confira a edição atual da Revista Tema Livre clicando aqui.
Neoliberalismo: História em 1 Minuto
Em uma das descobertas arqueológicas mais importantes da década, pesquisadores revelaram estruturas urbanas de 3.500 anos que reescrevem a história pré-colombiana.
Da redação
⏱️ Leitura estimada: 7 minutos
Em um dos anúncios arqueológicos mais marcantes das últimas décadas, pesquisadores peruanos revelaram, na última quinta-feira, 3 de julho de 2025, a existência de um centro urbano milenar até então desconhecido: Peñico. Situada a cerca de 200 km de Lima, no Peru, a cidade tem aproximadamente 3.500 anos e oferece uma nova perspectiva sobre as civilizações indígenas que floresceram no continente sul-americano.
A descoberta foi o resultado de oito anos de escavações contínuas, conduzidas por equipes lideradas pela arqueóloga Ruth Shady, também responsável pelo sítio de Caral. O anúncio não apenas reposiciona Peñico no mapa da arqueologia andina, como também reforça a complexidade e sofisticação das culturas indígenas muito antes do contato com o mundo europeu.
- Mais sobre arqueologia na Revista Tema Livre. Leia a matéria: Novos sítios arqueológicos são descobertos no litoral fluminense
O que é Peñico e onde fica?
Peñico está localizada na província de Barranca, numa zona de transição entre o litoral peruano e a Cordilheira dos Andes, próxima ao vale do rio Supe. O sítio compreende 18 estruturas identificadas até o momento, incluindo templos, praças circulares e plataformas residenciais dispostas em terraços a aproximadamente 600 metros de altitude.
- Como foi a atuação indígena na Cisplatina? Muitas vezes ignorada, o trabalho dos povos originários marcou capítulo da história do Brasil e de Portugal no rio da Prata. Leia o artigo do Prof. Dr. Fábio Ferreira (UFF) publicado no projeto Indígenas na História (Associação Nacional de História/ANPUH) clicando aqui.
Foram encontrados diversos artefatos, como conchas oceânicas, cerâmicas finas e instrumentos rituais, que indicam que Peñico funcionava como um ponto nodal entre o Pacífico, os Andes e regiões da bacia amazônica — possivelmente incluindo áreas que hoje compreendem a Amazônia brasileira.
Dados Chave sobre Peñico
- Período: 1800-1500 a.C.
- Localização: Barranca, Peru
- Área: 18 estruturas identificadas
- Civilização anterior: Tradição Caral-Supe
Peñico antecede civilizações como os Incas e Maias, sendo contemporânea a sociedades do Egito e Mesopotâmia. Arqueólogos classificam seus habitantes como parte de “culturas arqueológicas”, baseando-se em evidências materiais.
Trajetória cronológica e independência civilizacional
A cidade foi habitada entre 1800 a.C. e 1500 a.C., o que a torna contemporânea de civilizações como, por exemplo, as do Egito, da Mesopotâmia, do Vale do Indo e anterior aos Dez Mandamentos. Contudo, diferentemente das sociedades mencionadas, Peñico desenvolveu-se de forma independente, sem qualquer contato conhecido com culturas afro-eurasiáticas.

Continuidade pós-Caral
Reconhecida como a mais antiga civilização urbana das Américas, Caral floresceu entre 3000 a.C. e 1800 a.C. Esta encontra-se a menos de duas horas de Peñico, que, a seu turno, surgiu logo após o declínio de Caral, o que pode significar uma reorganização sociopolítica e ambiental no espaço andino.
Em vez de uma ruptura abrupta, a fundação de Peñico pode ser interpretada como uma descentralização deliberada do modelo urbano anterior, privilegiando escalas arquitetônicas menores e maior integração regional entre diferentes paisagens e grupos populacionais.
- Arqueologia e História: clique aqui e conheça Conimbriga, uma cidade romana em Portugal.
Centro de trocas
Um dos elementos centrais do sítio é uma praça circular adornada com relevos representando pututus — instrumentos musicais feitos de conchas marinhas, usados em rituais cerimoniais. Esses elementos sugerem um espaço voltado à concertação política e espiritual, onde eram realizados encontros entre diferentes grupos regionais.
A presença de bens materiais vindos de regiões distantes revela um alcance geográfico que ultrapassa os limites do atual Peru.
- Sugestão de leitura (artigo): Sequestros e tráfico de escravizados na fronteira Brasil x Uruguai.
Ameaças à arqueologia e a pesquisadores
A arqueóloga Ruth Shady enfrenta ameaças recorrentes de grupos interessados em terras próximas aos sítios arqueológicos. Em Caral, ela e sua equipe foram alvo de intimidações, invasões com máquinas pesadas e ameaças de morte.
Esses ataques resultam da combinação entre ocupação territorial ilegal, ausência de fiscalização estatal e especulação imobiliária. Apesar dos riscos, a preservação segue graças à mobilização de arqueólogos e moradores da região.
Potenciais para as Ciências Humanas
A descoberta de Peñico abre frentes para pesquisas em arqueologia, história e antropologia, ao possibilitar investigações sobre:
- Respostas socioculturais frente a eventos climáticos
- Circuitos de trocas interligando ecossistemas distintos
- Funções simbólicas e sociais da arquitetura pré-colombiana
- Redes de poder entre elites e populações locais
Abertura ao público: 12 de julho de 2025
O governo peruano anunciou que Peñico será aberto oficialmente à visitação em 12 de julho de 2025, com cerimônia voltada a pesquisadores, autoridades e imprensa. A expectativa é impulsionar o turismo cultural e atrair projetos acadêmicos, incluindo parcerias internacionais.
Civilizações indígenas além dos Incas
É comum associar a história andina apenas ao Império Inca. Porém, civilizações como Maias, Astecas e povos amazônicos também organizaram centros urbanos. A descoberta de Peñico evidencia uma tradição urbana anterior aos Incas, igualmente complexa.
Essa revelação convida a ampliar o conhecimento histórico da América pré-colonial. Sua preservação dependerá de ação coordenada entre Estado, pesquisadores e sociedade civil.
FAQ – Perguntas Frequentes
- O que é Peñico?
Um centro urbano milenar recentemente descoberto no Peru, com cerca de 3.500 anos.
- Onde fica Peñico?
Na província de Barranca, Peru, próximo ao vale do rio Supe.
- Quando será aberta ao público?
Em 12 de julho de 2025.
Cite a matéria corretamente:
REVISTA TEMA LIVRE. Cidade indígena é descoberta por arqueólogos na América do Sul. Niterói, 9 jul. 2025. Disponível em: https://revistatemalivre.com/cidade-indigena-descoberta-arqueologos. Acesso em: [colocar a data].
Saiba mais sobre História e Arqueologia no Debate Tema Livre (vídeo abaixo)
Shorts da Revista Tema Livre: Israel vs Irã: saiba como começou a rivalidade em menos de 1 minuto.
Gostou do conteúdo? Compartilhe:
Para mais história:
Se inscreva no canal da Revista Tema Livre no YT:
https://youtube.com/revistatemalivre?sub_confirmation=1
Assista e compartilhe
Leia:
Além do Ipiranga: uma história muito mais complexa da Independência
Acesse a seção Notícias da Revista Tema Livre: clique aqui.
Confira a edição atual da Revista Tema Livre clicando aqui.
Neoliberalismo: História em 1 Minuto
Descubra como Irã e Israel passaram de aliados estratégicos a rivais regionais. Conheça os eventos históricos que explicam o atual antagonismo.
Niterói, 16 de junho de 2025.
Da Redação.
Tempo estimado de leitura: 5 minutos
No complexo cenário do Oriente Médio contemporâneo, poucos confrontos são tão emblemáticos quanto a tensão entre Irã e Israel. A rivalidade entre esses dois países, marcada por hostilidades abertas, retórica beligerante e conflitos indiretos, é frequentemente tratada como algo imutável e natural. Porém, para compreender as raízes desse antagonismo, é fundamental revisitar a história que antecede essa crise.
Aliados em um contexto global turbulento
Entre as décadas de 1950 e 1970, Irã e Israel mantiveram uma relação estratégica estreita e relativamente amistosa. Governado pelo xá Mohammad Reza Pahlavi — aliado dos Estados Unidos em meio ao contexto da Guerra Fria e empenhado em um processo de modernização e ocidentalização —, o Irã foi um dos primeiros países muçulmanos a reconhecer o recém-criado Estado de Israel, em 1948.
Essa aproximação contemplava interesses políticos e econômicos de ambos os lados. Para Tel Aviv, o relacionamento com Teerã representava uma forma de mitigar seu isolamento regional e garantir uma base de apoio num país de maioria muçulmana, ainda que não árabe. Já para o regime secular do xá, que buscava modernizar o país, reconhecer Israel tinha sentido estratégico e alinhava-se com a política externa pró-Ocidente. Além disso, Teerã, apoiado pelos EUA, via que Israel funcionava como um contrapeso político útil diante da pressão dos países árabes vizinhos e das forças nacionalistas que buscavam enfraquecer a influência ocidental na região.
- Saiba mais sobre o Oriente Médio: leia nossa seção de “Sala de aula: História“
Essa aliança era, em muitos aspectos, pragmática. Israel treinou especialistas iranianos em segurança e inteligência, enquanto o Irã manteve uma das maiores comunidades judaicas do Oriente Médio. Até a Revolução Islâmica de 1979, cerca de 20 mil judeus residiam no Irã, vivendo em relativa segurança e mantendo tradições culturais e religiosas.

A guinada revolucionária: o início dos conflitos Irã-Israel
O ano de 1979 marcou um ponto de inflexão complexo não apenas para o Irã, mas para toda a geopolítica do Oriente Médio. A Revolução Islâmica, liderada pelo aiatolá Ruhollah Khomeini, derrubou o regime do xá Pahlavi e instaurou uma teocracia baseada na doutrina xiita do vilayat-e faqih — o governo do jurista islâmico.
Essa mudança radical no poder significou o cancelamento imediato de todos os acordos e tratados com Israel. O Irã, agora governado por grupamento religioso que via o Ocidente e seus aliados de forma extremamente crítica, redefiniu sua política externa em termos ideológicos. Israel foi qualificado oficialmente como “regime sionista ilegítimo” e visto como uma ameaça existencial, sendo a eliminação do Estado israelense incorporada à retórica oficial do novo regime.
A nova república iraniana via no conflito árabe-israelense não apenas uma questão regional, mas um símbolo da luta contra o mundo ocidental e o imperialismo. Assim, o Irã começou a apoiar atores políticos que têm diferentes visões ideológicas, incluindo grupos militantes e milícias opositoras a Israel, como o Hezbollah no Líbano, o Hamas na Faixa de Gaza e grupos aliados na Síria e no Iémen. Este é mais um exemplo que ilustra as nuances e complexidade que caracterizam a política do Oriente Médio.
A escalada do conflito, a rivalidade duradoura e o programa nuclear iraniano
Durante a década de 1980, a rivalidade se materializou em confrontos indiretos e batalhas por influência regional. Quando Israel invadiu o sul do Líbano em 1982 para combater a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Teerã respondeu enviando sua Guarda Revolucionária para apoiar as milícias xiitas locais — um movimento que culminou na formação do Hezbollah, organização que permanece até hoje como um ator-chave no conflito com Israel.
Essa dinâmica de confrontos por procuração seguiu intensificando-se ao longo das décadas seguintes. O programa nuclear iraniano tornou-se um ponto central de tensão, uma vez que Israel e várias potências ocidentais manifestam receios quanto à possível utilização militar. O debate em torno dessa questão permanece complexo e central para a estabilidade regional.
O que é o programa nuclear iraniano?
Desde a década de 2000, o Irã desenvolve um programa nuclear oficialmente voltado à geração de energia e pesquisa científica. No entanto, potências ocidentais, incluindo Israel e EUA, suspeitam de intenções militares. O debate divide a comunidade internacional, envolve inspeções da AIEA e gera tensões diplomáticas recorrentes.
Reflexões sobre a história para além do conflito atual
Entender que as relações Irã e Israel já foram diferentes das atuais, ou seja, que no passado foram aliados estratégicos, permite desconstruir a ideia de uma inimizade eterna e imutável. O conflito entre os dois países é antes produto de questões históricas e ideológicas que moldaram o Oriente Médio e resultaram no atual quadro.
A história da relação entre Irã e Israel é um convite a refletir sobre como alianças internacionais são moldadas por interesses mutáveis, ideologias e mudanças políticas profundas. Revisitar essas trajetórias é fundamental para compreender os impasses atuais e, quem sabe, abrir espaço para diálogos futuros que transcendam o conflito.
“Gostou do conteúdo? Compartilhe ou deixe seu comentário abaixo.”
Amplie o conhecimento: TV Tema Livre
Para mais história:
Se inscreva no canal da Revista Tema Livre no YT:
https://youtube.com/revistatemalivre?sub_confirmation=1
Leia:
Além do Ipiranga: uma história muito mais complexa da Independência
Acesse a seção Notícias da Revista Tema Livre: clique aqui.
Confira a edição atual da Revista Tema Livre clicando aqui.
Niterói, 27 de novembro de 2024.
Da Redação
Localizada no centro de Niterói, a Casa Norival de Freitas, também conhecida como Solar Notre Rêve (Nosso Sonho), foi restaurada e reinaugurada no último dia 22 de novembro, data em que é celebrada a fundação da cidade. No local passa a funcionar um centro cultural e o programa Aprendiz Musical, o programa mais extenso em todo o Brasil voltado à musicalização em escolas públicas.

O imóvel em estilo eclético romântico foi inaugurado em 1926, sendo, atualmente, uma das duas únicas construções do referido estilo arquitetônico existentes no município (o outro localiza-se a uns poucos metros, que é o da antiga Câmara de Vereadores e, atualmente, é ocupado pela Secretaria Municipal de Educação). Após o falecimento de seus proprietários, o Solar Notre Revê foi desapropriado, em 1979, pela Prefeitura de Niterói. Em 1984, um incêndio atingiu o prédio. Ainda que reformado parcialmente em 1988, o imóvel esteve abandonado desde o final da década de 1990. Em 2019, a Defesa Civil apontou o risco de desabamento.

A recuperação do imóvel seguiu as diretrizes do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) e do Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePac). No mesmo terreno, atrás do casarão, foi construído um prédio anexo de três andares, que conta com a administração do novo aparelho cultural, auditório com camarim, estúdio, área de convivência e um terraço para contemplação do espaço.
Quem foi Norival de Freitas
Nascido em Niterói em 1883, Norival Soares de Freitas foi advogado, historiador e político. Em relato memorialístico publicado, em 1958, na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), Freitas conta, de próprio punho, que sua aproximação com a instituição deu-se ainda na primeira década do século XX através de Max Fleiuss, sócio e secretário perpétuo da organização.

Conhecedor das dificuldades financeiras que Freitas enfrentava para custear o seu bacharelado em Direito, Fleiuss encarregava-o de alguns pequenos trabalhos, como a restauração e cópia de documentos. Posteriormente, em conjunto com o Barão do Rio Branco, Fleiuss foi um dos responsáveis pelo envio de Freitas a Portugal, em 1907, para buscar documentos relacionados à História do Brasil. À altura havia intenso debate relacionado ao local e data da fundação da cidade do Rio de Janeiro e Freitas encontrou documento que estabeleceu, entre os estudiosos do tema, a fundação do município entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar a 1º de março de 1565.

De volta ao Brasil, em outubro de 1908, Freitas ingressou no IHGB. Na instituição teve contato com proeminentes personagens que compuseram seus quadros, como Oliveira Lima, Capistrano de Abreu, Euclides da Cunha, dentre outros. Também fez parte da comissão que organizou o 1º Congresso de História, que foi realizado no Rio de Janeiro em setembro de 1914, além de ter exercido, no instituto, cargos de tesoureiro, de secretário e na diretoria.

Na mesma década, mais precisamente em 1918, foi eleito, pela primeira vez, para a Câmara de Deputados, a representar o estado do Rio de Janeiro. Rivalizou, no âmbito político, com Nilo Peçanha e foi aliado do presidente Arthur Bernardes. Com a Revolução de 1930, que fechou o Congresso Nacional, embora eleito, Norival de Freitas não assumiu como deputado federal. Ainda nos anos 30 volta ao parlamento, mas com o golpe do Estado Novo perdeu seu assento. Na década de 1950 candidatou-se mais uma vez para o cargo de deputado federal, no entanto, não foi eleito.

Ao longo de sua trajetória política, também compôs a Câmara Municipal de Niterói como vereador e foi chefe de polícia no antigo Estado do Rio. À altura do seu falecimento, a 22 de fevereiro de 1969, era o sócio mais antigo do IHGB.


Casa Norival de Freitas (Solar Notre Rêve)
Endereço: Rua Maestro Felício Tolêdo, 474 – Centro, Niterói – RJ
Niterói na Revista Tema Livre:
Evento na UFF recebe o historiador francês Roger Chartier
Músico niteroiense Sergio Mendes dará nome a complexo cultural de sua cidade natal
Novos sítios arqueológicos são descobertos no litoral fluminense
Niterói em cartões postais: para vê-los, clique aqui.
Niterói em fotos antigas: clique aqui.
Restauração do prédio da Cantareira deve ser iniciada ainda neste ano
É lançado, em Niterói, livro sobre a História do SUS
Para mais história:
Se inscreva no canal da Revista Tema Livre no YT:
https://youtube.com/revistatemalivre?sub_confirmation=1
Leia:
Além do Ipiranga: uma história muito mais complexa da Independência
Acesse a seção Notícias da Revista Tema Livre: clique aqui.
Confira a edição atual da Revista Tema Livre clicando aqui.
Especialistas alertam que o uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode ocasionar prejuízos de grande impacto para a saúde física e mental das pessoas
No Brasil, as pessoas passam aproximadamente 16 horas do dia acordadas, mas um dado chama a atenção: mais da metade desse tempo é destinado ao uso de smartphones e computadores. O levantamento foi feito pela plataforma Electronics Hub, um site de informações eletrônicas, a partir da pesquisa Digital 2023:Global Overview Report da DataReportal, considerando 45 nações, e concluiu que o Brasil é o segundo país com mais pessoas em frente a uma tela.
São cerca de 56,6% das horas acordadas em frente a telas, ou seja, cerca de nove horas do dia. Em primeiro lugar do ranking estão os sul-africanos, que passam 58,2% acordados usando o computador ou um smartphone.
Ainda segundo a plataforma, uma possível explicação para esse tempo poderia estar ligada ao crescimento dos serviços de streaming on-line, com dados revelando que 64% dos usuários brasileiros de smartphones são assinantes de serviços como Netflix, Apple TV ou Prime Video da Amazon.
Apesar dos inúmeros benefícios atrelados à tecnologia, tanto para o desenvolvimento econômico quanto social do País, com o aumento de conexões e possibilidades, o uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode ocasionar prejuízos de grande impacto para a saúde física e mental das pessoas, e também trazer percepções sobre para onde e como o País está caminhando em seu desenvolvimento socioeconômico.
Em contrapartida, mesmo sendo um país altamente tecnológico, o Japão, ficou em último lugar no levantamento. Os habitantes daquele país têm as taxas de tempo de tela mais baixas do mundo, com usuários destinando apenas 21,7% de seu tempo para olhar para seus dispositivos.
Ao analisar esses dados, a partir do nível de desenvolvimento dos países, onde o Japão está classificado como um dos mais desenvolvidos, o professor Ildeberto Aparecido Rodello, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP) da USP, aponta que este tempo poderia ser considerado um dos fatores para explicar essa diferença.
“De certa forma, podemos tentar fazer a associação do impacto dessa diferença de tempo em tela, entre Brasil e Japão, considerando o desenvolvimento socioeconômico”, afirma. Mas, segundo o professor, é necessário também levar em conta fatores como a idade mediana da população brasileira e da japonesa, em que uma é mais jovem do que a outra, respectivamente, e questões culturais. “Existe assim uma possibilidade de relação, porém, eu não afirmaria com certeza”, pontua.
Produtividade em questão
Para o professor de Psicologia Social Sérgio Kodato, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP, a tecnologia é extremamente favorável para efeitos do desenvolvimento do País. No entanto, ele apresenta uma série de fatores que levam a um desequilíbrio nas situações de trabalho, entre os aspectos pessoais e profissionais.
Kodato aponta que o uso de aparelhos celulares durante o horário de serviço pode levar à distração, dependência, falta de engajamento e concentração na atividade de trabalho. “Sabemos que existem ferramentas essenciais para utilização no desenvolvimento profissional, mas para combater essa distração e esse desperdício na produtividade é preciso um bom treinamento e conscientização em termos de maturidade, disciplina e engajamento nos objetivos da empresa ou instituição”, coloca o professor.
Além disso, a psicóloga Tatiane Possani, doutora em Psicobiologia pela FFCLRP da USP, ressalta esse manejo do uso da tecnologia no ambiente de trabalho. Para ela, é indiscutível que o uso da tecnologia pode colaborar para a otimização do tempo, gerenciamento de tarefas e trazer maior rapidez para desempenhar diversas atividades, entretanto, o estar a todo momento conectado pode dificultar o estabelecimento de prioridades.
“Ao chegar um e-mail, uma mensagem, um vídeo que podem ser interpretados como algo urgente a serem resolvidos, mesmo não sendo na realidade, pode fazer com que múltiplas tarefas sejam executadas ao mesmo tempo e com que haja dificuldade em limitar o tempo de trabalho, tempo de lazer e o tempo de descanso”, explica a psicóloga. “Não é o uso da tecnologia em si o problema, mas a forma que eu faço o uso e a quantidade de tempo”, complementa.
Cuidados com a saúde
Não é de hoje que os especialistas alertam para o mal à saúde que o uso excessivo da tecnologia pode causar. Em seu último mapeamento de transtornos mentais, a Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou que o Brasil possui a população com maior prevalência de transtorno de ansiedade do mundo e isso não é uma coincidência.
De acordo com Tatiane, o tempo de tela e a ansiedade possuem uma relação positiva, ou seja, quanto maior o uso excessivo de tela, maior a ansiedade, como também quanto maior ansiedade, maior o uso excessivo de tela. “O uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode decorrer dos perigos do cenário que vivenciamos, como o medo de ser assaltado, dificuldade financeira, o que pode favorecer ainda mais o isolamento social.”
Kodato comenta ainda que a ansiedade “é a distância que existe entre o que eu deveria ser e o que eu consigo ser”. “Então basicamente todo o brasileiro ou quase todo o brasileiro, seja por procrastinação, seja por falta de condições infraestruturais, sabe muito bem que não está rendendo o máximo daquilo que é possível”, indica.
O especialista cita a China como exemplo. “Se você passar uma temporada na China, vai ver que em todos os setores da vida social a velocidade, a competência, a rapidez, a esperteza com que são realizadas as tarefas é praticamente muito maior do que no nosso país.” Dessa maneira, a ansiedade estaria atrelada a uma consciência de “dívida”.
Por outro lado, Kodato explica que a ansiedade também tem relação com o imediatismo. “Também somos uma cultura de resultados imediatos e isso é obtido na tela do computador, tanto a questão do prazer imediato, quanto a questão da informação. Nesse sentido, essa ansiedade tem a ver com a questão dos resultados imediatos, do imediatismo, e não trabalhar, batalhar, lutar, brigar e cultivar para obter o resultado almejado”, finaliza.
Matéria de Susanna Nazar extraída do Jornal da USP disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/brasileiros-passam-em-media-56-do-dia-em-frente-as-telas-de-smartfones-computadores/
Foto: Freepik/Jornal da USP
Por Fábio Ferreira
Professor Associado da Universidade Federal Fluminense e líder do Grupo de Estudos das Trajetórias das Organizações (GESTOR)/CNPq. Doutor em História pelo PPGH/UFF. Mestre em História pelo PPGHIS/UFRJ. Graduado em História pela UFRJ.
Normalmente, quando se pensa na independência do Brasil, o senso comum costuma recordar-se da imagem do príncipe regente português Pedro de Bragança às margens do rio Ipiranga (hoje, parte do bairro de mesmo nome da cidade de São Paulo), a proclamar, em 7 de setembro de 1822, “Independência ou Morte”. Em tese, teria sido feita ali a separação de Portugal. Há, portanto, os que creem que, no ato, o Brasil tornou-se uma nação livre e soberana, inclusive essa versão contada ao longo de quase 200 anos foi consolidada junto à sociedade e, hoje, está presente no hino nacional, em livros, museus, monumentos nas praças, nomes de ruas de várias cidades, além de o dia 7 ser o principal feriado cívico nacional. Porém, qual seria a versão “mais complexa” da Independência do Brasil?
Em primeiro lugar, a emancipação foi um processo histórico que atravessou vários anos, o que já se constitui um elemento que convida a todos a olharem além do Ipiranga. Ademais, os historiadores devem voltar sua análise aos processos e não aos fatos isolados, como seria fazer se se fixassem unicamente no 7 de setembro.
Deve-se considerar ainda que, nesse período, independência podia significar a ruptura completa com Portugal, como ao fim e ao cabo ocorreu, mas também podia ser o estabelecimento de um governo autónomo que não rompesse totalmente com Lisboa, inclusive as mencionadas possibilidades estiveram presentes em projetos políticos da época. Entre muitas aspas, a Independência poderia ser uma proposta de inserção do Brasil na monarquia portuguesa que se assemelhasse à canadense ou à australiana na monarquia inglesa de hoje.
No tocante às identidades dos atores sociais do período, os indivíduos que viviam no Brasil tinham o sentimento de pertencimento à nação portuguesa, sendo que a brasileira sequer existia. Essa foi forjada depois de 1822. Então, os habitantes do Brasil se sentiam portugueses pertencentes à sua região de nascimento, a haver, por exemplo, os portugueses fluminenses (da capitania/província do Rio de Janeiro), os portugueses pernambucanos (Pernambuco), os portugueses riograndenses (da área que é o atual Rio Grande do Sul), etc.
Dito isso, para uma melhor explicação do processo de Independência, deve-se voltar a 1820, quando o sul da Europa viveu uma série de revoluções políticas de cunho liberal com diversas demandas, entre elas a de uma Constituição. Como exemplo, Nápoles, Espanha e Portugal foram palco desses levantes. Ao caso português agrega-se a particularidade que os liberais exigiam o retorno a Lisboa do rei D. João VI, que, desde 1808, vivia no Rio de Janeiro, pois ele e sua corte deixaram Portugal quando Napoleão Bonaparte invadiu a península ibérica, sendo que, apesar de o líder francês ter sido derrotado em 1815, ao monarca interessava-lhe permanecer nas Américas.
Voltando aos constitucionalistas portugueses, seus levantes reverberaram em diversas partes importantes dos territórios da monarquia portuguesa, como, por exemplo, Lisboa, Pará, Bahia e Rio de Janeiro. Nessas circunstâncias, sem o apoio de importantes regiões do Brasil, D. João decidiu voltar a Portugal, embora soubesse que na Europa ele teria seu poder político diminuído em razão dos liberais.
O rei partiu em abril de 1821, deixando no Brasil o seu filho mais velho, D. Pedro, como príncipe regente, o que significou que o primogênito dos Bragança seria responsável pelos assuntos americanos da Casa Real. À altura, na capital portuguesa, já havia se instalado um Congresso, também chamado de Cortes, no qual seus deputados elaboravam una constituição que deveria vigorar em todos os domínios portugueses ao redor do mundo, ou seja, na Europa, África, Ásia e América.
Entretanto, ainda que não existisse uma Constituição lusa até outubro de 1822, o governo lisboeta tomou medidas concretas para diminuir o poder político do príncipe Pedro e do Rio de Janeiro. Como exemplo, vários órgãos de governo que foram criados na cidade com a chegada de D. João em 1808 deveriam deixar, segundo as Cortes, de existir no Brasil.
Observa-se que, independentemente do seu local de nascimento, ou seja, se no Rio de Janeiro, Porto, Luanda, Goa ou Macau, essa medida desagradava aos poderosos estabelecidos no Novo Mundo, que tinham fechadas oportunidades de cargos e de influência na administração pública. Outra ação foi a exigência de Lisboa de que o príncipe Pedro deveria voltar à Europa, assim como seu pai havia feito meses antes, o que também desagradou a muitos dos portugueses que estavam no Brasil.
Desobedecendo às Cortes, em janeiro de 1822, D. Pedro declarou que ia ficar no Brasil, no famoso Dia do Fico. Em sintonia com seu ato político, o príncipe também expulsou do Rio de Janeiro tropas portuguesas fieis a Lisboa, alterou seu ministério e estabeleceu, sem o aval do governo lisboeta, órgão que deveria analisar as decisões das Cortes no que se referisse ao Brasil. Em junho, D. Pedro convocou uma Assembleia, que deveria fazer uma Constituição especifica aos domínios americanos dos Bragança e, ao mesmo tempo, tecia alianças políticas com vários setores sociais das províncias brasileiras, não obstante houvesse segmentos que estivessem presentes no Brasil e fossem fieis às Cortes. Além disso, conhecedor do processo de fragmentação dos vice-reinos espanhóis nas América, o príncipe buscava evitar que o mesmo ocorresse com o Brasil.
No segundo semestre de 1822, ocorreram vários fatos importantes, que aumentaram o desgaste das relações entre o Rio de Janeiro e Lisboa. Em agosto, D. Pedro decretou que as forças militares oriundas de Portugal que, porventura, desembarcassem no Brasil sem sua autorização seriam tratadas como inimigas. Igualmente, no citado mês, tornou público seu manifesto às nações estrangeiras onde justificava suas ações à frente do governo fluminense e enviou seus representantes diplomáticos a Londres, Paris e Washington.
Também em agosto, o príncipe foi a São Paulo tecer alianças e permaneceu na província até setembro. Nesse contexto, ocorreu o que hoje se compreende como a independência brasileira. Às margens do Ipiranga, à época área entendida como fora da cidade de São Paulo, D. Pedro recebeu cartas do governo do Rio de Janeiro. As epístolas informavam-lhe sobre as novas medidas das Cortes contra seu governo e, então, o príncipe disse aos membros de sua comitiva que estavam definitivamente rotos os enlaces com Portugal e, em seguida, voltou à capital da província. Deve-se destacar que esse fato não foi largamente explorado em 1822.
No entanto, nos anos posteriores, se criou uma versão heroica do fato ocorrido em São Paulo. D. Pedro e sua comitiva estariam montados em cavalos (mas, na verdade, eram mulas, pois era o animal que utilizava-se, rotineiramente, no período e na região, para transportar-se) e, quando ele teria lido as missivas, indignado com as medidas de Lisboa, tirara sua espada às margens do Ipiranga e teria gritado “Independência ou morte”, no que foi seguido por todos de sua comitiva.
Deixando a versão ufanista e retornando a 1822, mais especificamente a outubro, há de explorar-se o dia 12, quando D. Pedro foi aclamado imperador do Brasil no Rio de Janeiro, seguindo ritos das monarquias europeias, com o objetivo de pontuar seu governo como continuidade de una tradicional casa real do Velho Mundo. Ademais, a data era o dia do aniversário de D. Pedro e, ao menos em 1822, reverberou muito mais que o 7 de setembro. Ao longo da década de 1820 se compreendia que o Império foi criado em outubro e a data somente saiu do calendário das festas oficiais brasileiras em 1831, ano que, depois de uma grave crise de governabilidade, D. Pedro abdicou do trono brasileiro e retornou a Portugal.
No último mês de 1822, também no Rio de Janeiro, houve a coroação de D. Pedro como Imperador do Brasil. A data escolhida foi 1º de dezembro, dia importante, até o século XXI, para os portugueses, pois é o dia da Independência de Portugal, que, por sua vez, foi feita em 1640 por um antepassado de D. Pedro, o Duque de Bragança. Desejava-se, portanto, associar sua imagem e do seu Império a um passado glorioso no qual os portugueses e os Bragança estivessem envoltos.
Além dos fatos expostos, que contribuem para a compreensão de uma versão processual e mais complexa da independência do Brasil, nas províncias houve reações distintas aos episódios que tiveram o Rio de Janeiro e São Paulo como palco. Como exemplo, em parte significativa da região amazónica, os poderosos locais não aderiram ao projeto imperial. No caso específico do Pará, esse já havia se declarado parte de Portugal, a desvincular-se do Rio de Janeiro, antes mesmo da aclamação ou da coroação de D. Pedro. Salvador foi controlada por militares portugueses fiéis às Cortes até julho de 1823.
No rio da Prata, mais especificamente no território onde hoje é a República Oriental do Uruguai, que, por sua vez, desde 1821 era parte da monarquia portuguesa sob o nome de Estado Cisplatino Oriental, houve divisão interna: a parte das forças militares dos Bragança favoráveis a Lisboa associou-se a uma fração da elite “uruguaia” e, associados, controlaram Montevidéu, tendo sido árduos opositores do projeto do Império. Outra parte dos militares (comandados pelo general português Carlos Federico Lecor) e dos “uruguaios” estabeleceram a sede do poder brasileiro no interior.
Identifica-se, deste modo, que o novo imperador tinha um grande desafio para estender seu poder do Amazonas ao Prata. O grito no Ipiranga ou a aclamação não foram bastante para garantir-lhe o controle de todas as províncias. A isso soma-se que o Império não tinha a quantidade suficiente de militares para submeter todo o Brasil e, para consegui-lo, D. Pedro contratou mercenários franceses, como Labatut, que já havia lutado na América do Sul com Bolívar, e ingleses, como Cochrane, que, anteriormente, lutou no Chile ao lado de O’Higgins e San Martin (respectivamente próceres das independências chilena e argentina).
Embora os muitos conflitos que ocorreram entre forças imperiais e portuguesas, ao longo de 1823, pouco a pouco as resistências ao Império foram caindo. A última praça ocupada por portugueses foi Montevidéu, onde as forças brasileiras adentraram somente em março de 1824. Também nesse ano, D. Pedro outorgou a primeira constituição brasileira e, em 1825, Portugal reconheceu o Brasil como um Estado independente. No entanto, havia, ainda, uma árdua missão para o Império: ordenar a economia brasileira, debilitada pelos acontecimentos políticos; criar uma identidade nacional ao Estado que nasceu sem ser uma nação; e equilibrar-se nos complexos jogos políticos com as províncias imperiais e com os governos vizinhos – basta recordar-se que o primeiro conflito externo do Império iniciou-se em 1825 contra o governo de Buenos Aires pelo controle do “Uruguai”, na chamada Guerra da Cisplatina.
Por fim, ao longo dos anos, o grito do Ipiranga foi ganhando importância e se tornando a principal data cívica brasileira. O que aconteceu em outras partes do Brasil foi sendo esquecido e, hoje, fora dos círculos acadêmicos, poucos conhecem o processo de emancipação e sua complexidade. Ignora-se, por exemplo, que outros episódios além do Ipiranga poderiam ter sido reconhecidos como os da independência brasileira e serem, porventura, celebrados como episódios cívicos nacionais. Porém, esquecimentos e equívocos ocorrem em diversos processos históricos em vários países e cabe aos historiadores a análise e recordarem à sociedade o que foi esquecido, muitas das vezes, por séculos.
* A versão original do artigo foi publicada, em espanhol, na edição 655 (agosto de 2022) da revista “Todo Es Historia” (ISSN 0040-8611/IMPRESA, ISSN 2618-4354/DIGITAL) , destinada à divulgação científica, sob o título “Más Allá del Ipiranga: Una Historia Compleja”.
Referências
CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
FERREIRA, Fábio. O 1808 português e espanhol e os seus desdobramentos na Banda Oriental do Rio da Prata. In: ORTIZ ESCAMILLA, Juan; FRASQUET, Ivana (Org.). Jaquea la corona: la cuestión política en las independencias ibero-americanas. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 2010.
KRAAY, Hendrik. A Invenção do Sete de Setembro, 1822-1831. In: Almanack Braziliense, n°11, mai. 2010. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/alb/article/view/11738/13513
NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das. Corcundas e constitucionais: a cultura política da independência (1820-1822): Rio de Janeiro: Revan, FAPERJ, 2003.
PIMENTA, João Paulo. Independência do Brasil. São Paulo: Contexto, 2022.
Primeiramente, como surgiu o seu interesse pela História e em qual momento da sua vida o Sr. optou por cursá-la? Como surgiu a História Cultural em sua obra?
As a small boy growing up just after the Second World War, I liked playing with toy soldiers. Someone gave me a book for adults called Fifteen Decisive Battles of the World. I found the text difficult but the diagrams of battles were ideal for the toy soldiers. I began to take an interest in military history, especially medieval armour and weapons and 19th-century uniforms. I became especially interested in the Middle Ages – Gothic cathedrals, romances of chivalry, heraldry, illuminated manuscripts (on display in the British Museum), medieval chronicles, etc. When I applied to Oxford, aged 17, I still thought I was going to be a medievalist, but then I discovered the Renaissance. Reading Jacob Burckhardt’s book on the culture of the Italian Renaissance was my discovery of culltural history, leading to my Culture and Society in Renaissance Italy (1972), which one reviewer called ‘the Burckhardt of the 1970s’ (actually, the book is still in print).
Como o Sr. analisa o impacto dos Annales na sua produção intelectual?
As a student at Oxford, I read works by Bloch, Braudel and Febvre (I think in that order) as well as new issues of the journal Annales, and I became an enthusiast for ‘total history’ and especially the history of mentalities. When I was writing the book on the Renaissance, which was a social as well as a cultural history, I remember asking myself from time to time, How would an Annales historian approach this subject? None of them had, unless one includes Francastel, an unorthodox art historian who published something in the journal.
Uma reflexão que o Sr. propõe é pensar na História como gênero literário. Por que e como fazê-lo?
This is really an old idea, going back at least as far as Thucydides, who wrote history as tragedy long before Hayden White suggested ‘emplotment’. Another favourite historian of mine, Francesco Guicciardini, wrote a history of Italy in the 16th century that was also emplotted as tragedy, following the French invasion of Italy in 1494. Personally, I am most attracted to history in the ironic mode (another of White’s 4 categories, which should be at least 5, including epic). In this respect I follow Burckhardt. I would really like to be able to write history in the manner of Chekhov, producing a narrative that is comic and tragic at the same time, but this would work better for political or maybe social hisotry rather than cultural history.
A ideia do gênero literário poderia ser expandida para outras áreas, como Antropologia, Economia, Direito, dentre outras?
Not only can be but has been. In anthropology, Clifford Geertz in particular was well aware of producing a literary work, while some of his ex-students contributed to a book, Writing Culture, that stressed the literary aspect of books on anthropology. The comparison between Malinowski and Conrad (both Poles, living at the same time and exploring worlds beyond Europe) was once bold but has become commonplace. I am not so sure about economics, but in the case of law, there is increasing interest in narrative and its conventions, a new approach to the testimonies of witnesses.
Como a História pode contribuir para a sociedade através das escolas, mas, também das universidades (onde outros cursos possuem disciplinas de História, como Arquitetura, Economia, Medicina e Matemática)?
In the 19th century, courses on the natural sciences usually included a history of the subject, abandoned when there was too much geology, physics, etc to teach. The history of science then turned into a speciality with courses of its own, part of the increasing division of labour inside as well as outside universities. I think that, for instance, courses on the history of architecture, given by architects for architects, make an important contribution to understanding, but this internalist approach (a history of problems and solutions) needs to be complemented by an externalist approach by social or cultural historians, linking what happened in architecture to what happened outside it in a given period.
No contexto atual, qual a importância da divulgação científica? Na sua opinião, no que ela poderia vir a ser aprimorada?
In the case of the natural sciences, popularization via television is obviously important, while in some universities, chairs have been founded in ‘The Public Understanding of Science’. In the case of history, some leading scholars have shown themselves able to write for the general public as well as for specialists – Simon Schama, for instance, Carlo Ginzburg, or in the most recent generation of Annales historians, Patrick Boucheron. Things can always be improved, but looking at the disseminators, my view is optimistic. Looking at the disseminated, the readers and viewers, I am not so sure, especially in the case of a generation more familiar with smartphones than with books.
O Sr. tem alertado sobre a importância do polímata. Assim, poderia nos falar sobre a relevância deles e da interdisciplinaridade para a sociedade em geral e, também, para os circuitos acadêmicos e para o próprio mercado de trabalho?
In an age of increasing specialization, we need polymaths more than ever, because they are the only individuals in a position to see connections between discoveries, problems and solutions in different disciplines. The problem today is that there are fewer social niches for them than before. The job market has no place for them. But many polymaths have begun in one discipline and gradually extended their interests to others.
There are interdisciplinary courses in some universities (including the University of Sussex, where I began my teaching career in 1962, though the interdisciplinary project was abandoned there around the year 2000). I still believe that the best form of education in a university is to combine the intensive study of one discipline, the ‘major’ subject, with courses in other disciplines, preferably ones that connect with the major. In the case of certain subjects, such as law and medicine, there may be a conflict between this ideal and the need for professional training, but most employers want graduates who are adaptable, whatever their subject at university. When I used to write references for my students, I emphasized, where possible, that they were quick to learn new things, and this kind of recommendation seemed to work.
Para finalizarmos, alguma projeção relativa ao que será a pesquisa acadêmica nas próximas décadas? Há, ao menos na História, a perspectiva de alguma renovação como foram os Annales?
Today, we see a variety of new approaches to history of which the best established and most important is surely the history of the environment. Where the Annales historians focussed and still focus on relations with the social sciences, historians of the environment need to know about natural sciences – geology, climatology, botany, etc. Other new approaches include digital history and non-human history. I don’t see any one centre dominating the scene like the Annalistes in Paris in the age of Braudel. History – like the world – is now polycentric!
Por Helena Wagner Lourenço Ferreira
(Doutoranda no PPGH/UERJ-FFP, mesmo programa no qual a autora defendeu a dissertação “O papel dos partidos políticos nas reformas da previdência de 1998 e 2003“)
Construção de um discurso hegemônico
Antonio Gramsci ensina que a dominação não está apenas no campo da coerção, ou seja, do uso da violência, mas também se utiliza da produção de consenso, formando ambas, coerção+consenso a hegemonia. Dessa forma, pode-se verificar que a reforma da previdência ocorrida em 1998 houve a utilização de coerção e consenso. Através de um processo de convencimento, feito de maneira processual, a mesma foi aceita pela sociedade, embora tratando-se de retirada de direitos conquistados pois, segundo Cox, “a hegemonia é suficiente para garantir o comportamento submisso da maioria das pessoas durante a maior parte do tempo” (COX, 2007, p.105).
Diante disso, Gramsci trabalha com a ideia de Estado Ampliado, ou seja, sociedade civil mais sociedade política, isto é, hegemonia revestida de coerção, não identificando, portanto, o Estado apenas como um aparelho repressivo. Assim, a hegemonia não é construída só a partir do consenso, mas também a partir da coerção. Coutinho explica
O Estado em sentido amplo, “com novas determinações”, comporta duas esferas principais: a sociedade política (que Gramsci também chama de “Estado em sentido estrito” ou de “Estado-coerção”), que é formada pelo conjunto dos mecanismos através dos quais a classe dominante detém o monopólio legal da repressão e da violência […] e a sociedade civil, formada precisamente pelo conjunto das organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias, compreendendo o sistema escolar, as igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as organizações profissionais, a organização material da cultura (revistas, jornais, editoras, meios de comunicação de massa), etc (COUTINHO, 1999, p. 76 e 77).
No intuito de construir a hegemonia, os partidos políticos têm o papel de moldarem as opiniões do proletariado, formando uma vontade coletiva, os fazendo crer que será melhor para eles apoiar aquilo que os partidos querem, ainda que seja a diminuição dos seus direitos conquistados pela Constituição do Brasil de 1988. De acordo com Marinho,
Ao partido caberá a “formação de uma vontade coletiva nacional-popular,da qual (…) é ao mesmo tempo o organizador e expressão ativa e atuante” e também a missão de preparar a “reforma intelectual e moral” (MARINHO, 2006, p. 58)
Essas ideias não são revolucionárias, mas têm origem no país que estabelece a hegemonia, conforme afirmado por Cox
o grupo portador de novas idéias não é um grupo social autóctone ativamente engajado em construir uma nova base econômica com uma nova estrutura de relações sociais. É um estrato intelectual que aproveita idéias originadas de uma revolução econômica e social ocorrida anteriormente no estrangeiro […] em geral, as instituições e regras internacionais se originam do Estado que estabalece a hegemonia (COX, p. 115 e 119)
Neto também corrobora esse entendimento
[…] a imposição para a adoção da mesma cartilha [neoliberal] veio quase sempre de fora. Mas, encontrou no interior das nações lideranças classistas dispostas a adotar pontos do receituário neoliberal que se adequavam aos seus interesses. Este foi o caso do Brasil (ALMEIDA, 2012, p. 144)
Dessa forma, aos poucos, a classe operária passa a ser a favor de privatizações, neoliberalismo, reformas tributárias, trabalhistas, previdenciárias, sem perceber que, na verdade, as mudanças prejudicam a sua classe, interessando, apenas, à classe dominante. De acordo com Gramsci,
As ideias e opiniões não “nascem” espontanemanete no cérebro de cada indivíduo: tiveram um centro de formação, de irradiação, de difusão, de persuasão, um grupo de homens ou inclusive uma individualidade que as elaborou e apresentou sob a forma política de atualidade (GRAMSCI, 1989, p. 88).
Segundo esse autor, o convencimento da sociedade a algo se completa através do trabalho dos “aparelhos privados de hegemonia”. Ou seja, utilização de jornais, revistas, escolas, que realizam uma reforma intelectual na população, fazendo com que esta passe a querer aquilo que esses aparelhos desejam. Pois,
a elaboração nacional unitária de uma consciência coletiva homogênea requer múltiplas condições e iniciativas. A difusão, por um centro homogêneo, de um modo de pensar e de agir homogêneo é a condição principal […] (GRAMSCI, 2001, p. 205)
Em que pese esses veículos se apresentarem como “neutros”, na verdade eles funcionam como partidos, não no sentindo stricto da palavra, mas no sentido lato de “ter um lado”, não sendo imparcial, mas trabalhando para convencer o interlocutor. Assim, Marinho declara que
Antonio Gramsci distingue duas formas de partido: o político e o ideológico. O partido ideológico está dentro do conjunto dos aparelhos privados de hegemonia – imprensa, círculos, associações, clubes. O partido tende a transformar cada indivíduo em intelectual, mais especificamente em dirigente, ou seja, intelectual capaz de desempenhar sua “função diretiva e organizativa, isto é, educativa ou intelectual” (MARINHO, 2006, p. 69)
A esse respeito, Coutinho conceitua “aparelhos privados de hegemonia” como “organismos de participação política aos quais se adere voluntariamente (e, por isso, “privados”) e que não se caracterizam pelo uso da repressão” (COUTINHO, 1999, p. 76). Ou seja, são privados, mas são voltadas ao interesse público, se dirigindo a este, possuindo função pública, se tornando um formador de opinião.
Esses aparelhos declaram que se, por exemplo, o neoliberalismo e as reformas previdenciárias forem implementadas, haverá crescimento econômico, combate à miséria, progresso, os recursos remanescentes serão distribuídos para outras áreas, como saúde e educação, porque a sua finalidade é moldar na sociedade a opinião de que a reforma da previdência, por exemplo, é boa e necessária. Pois,
[…] sua finalidade é modificar a opinião média de uma determinada sociedade, criticando, sugerindo, ironizando, corrigindo, renovando e, em última instância, introduzindo “novos lugares-comuns” (GRAMSCI, 2001, p. 208)
Fernando Henrique Cardoso, afirmou
A parceria com a iniciativa privada na infra-estrutura econômica abre espaço para que o Estado invista mais naquilo que é essencial: em saúde, em educação, em cultura, em segurança. Em suma, para que o Brasil invista mais no seu povo […] (CARDOSO, 1994, p. 21)
E, em seu discurso de posse, em 1995 declarou a necessidade da utilização dos aparelhos privados de hegemonia,
esta verdadeira revolução social e de mentalidade só irá acontecer com o concurso da sociedade […] precisamos costurar novas formas de participação da sociedade no processo das mudanças. Parte fundamental dessa tomada de consciência, dessa reivindicação cidadã e dessa mobilização vai depender dos meios de comunicação de massa (CARDOSO, 1995, p. 23)
E, diante desse trabalho, aos poucos, os cidadãos vão se convencendo do discurso que a classe dominante quer, atuando como uma “massa de manobra”. De acordo com Gramsci,
A massa é simplesmente de “manobra” e é “conquistada” com pregações morais, estímulos sentimentais, mitos messiânicos de expectativa de idades fabulosas, nas quais todas as contradições e misérias do presente serão automaticamente resolvidas e sanadas (GRAMSCI, 1989, p. 24)
Como já exposto, os jornais são aparelhos privados de hegemonia, atuando para a construção da mentalidade do proletariado de que a reforma da previdência se fazia necessária e urgente. No entanto, isso não impede que o historiador problematize os fatos e vários ângulos da notícia, podendo, esses periódicos serem utilizados como fontes de pesquisa. Por essa razão, algumas reportagens da Folha de São Paulo serão utilizadas no presente trabalho.
O PSDB, através do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, atuou como um verdadeiro partido político, sendo líder da construção do discurso hegemônico pró-neoliberalismo, que culminou em privatizações e, também, na reforma da previdência iniciada em 1995. Durante toda a sua campanha eleitoral, o assunto era o orçamento apertado, o desequilíbrio financeiro do setor público, falência do modelo previdenciário, necessidade de diversas reformas constitucionais, disseminando o medo, levando a população a crer que se não fossem realizadas mudanças urgentes na Constituição não haveria dinheiro para pagar aposentadoria, inexistiria possibilidade de aumento do salário mínimo, etc. Em seu discurso de posse FHC declarou
Ao escolher a mim para sucedê-lo [Itamar Franco], a maioria absoluta dos brasileiros fez uma opção pela continuidade do Plano Real, e pelas reformas estruturais necessárias para afastar de uma vez por todas o fantasma da inflação. A isto eu me dedicarei com toda a energia, como presidente […]
o movimento por reformas que eu represento não é contra ninguém. Não quer dividir a Nação. Quer uni-la em torno da perspectiva de um amanhã melhor para todos.
Ainda no mesmo discurso, a questão do convencimento consta também na fala de FHC:
buscando sempre os caminhos do diálogo e do convencimento […] temos o apoio da sociedade para mudar (CARDOSO, 1995, p. 13)
E, em outro discurso, fica clara a disseminação de que se não houver reforma constitucional haverá o desequilíbrio do sistema e impossibilidade de pagamentos e aumento do salário mínimo, causando medo na população, convencendo-na da necessidade das mudanças:
O Fundo Social de Emergência […] é um arranjo transitório […] se ele não for substituído por medidas permanentes, o precário equilíbrio fiscal – ou o “desequilibrio controlado” como diz o ministro Sérgio Cutollo sobre as contas da Previdência – dará lugar a um desequilíbrio aberto já em 96 […] Nem há como pensar em aumento real do salário mínimo enquanto o valor dos benefícios previdenciários estiver vinculado a ele (CARDOSO, 1994, p. 24 e 30)
No entanto, na contramão da argumentação presidencial, o Tribunal de Contas da União (TCU) realizou auditoria nas contas da previdência e em abril de 1995 declarou, através de relatório, que em 1994 a previdência não teve déficit, mas sim, um superávit de R$ 1,8 bilhão de reais e ainda que “o INSS vem tendo superávit de caixa nos últimos três anos”( O Globo, 18. abr. 1995, p. 5). Após esse relatório, o ministro da previdência, Reinhold Stephanes (PFL), informou que esse valor é considerado reserva de caixa(Ibid, 1995, p. 5). Ou seja, em nenhum momento o ministro confrontou a informação trazida pelo TCU, o que leva a crer que de fato havia superávit e não déficit no sistema em questão, ao menos em 1994, permitindo-se, portanto, concluir a respeito da ausência de necessidade da reforma.
E ainda, apesar do aumento do salário mínimo e, consequentemente, a elevação do valor das aposentadorias e pensões, o secretário-executivo da Previdência, Luciano Oliva, declarou que a Previdência Social terá superávit em 1995 e não déficit (O Globo, 31mai. 1995, p. 7), o que, mais uma vez, corrobora o relatório do TCU. Tudo leva a crer que FHC assumiu o poder Executivo sem déficit no sistema previdenciário, sem necessidade de reforma, mas devido à imposição da construção da hegemonia neoliberal, realizou a mudança no sistema previdenciário, prejudicando a classe dominada, ou seja, a classe mais desfavorecida, como os trabalhadores.
Discurso hegemônico pró-neoliberalismo em âmbito internacional
A construção de um discurso hegemônico pró-neoliberalismo não ocorreu apenas em âmbito nacional, mas também a nível internacional. As organizações multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial também são utilizadas como aparelhos privados de hegemonia, sendo usados pelos Estados Unidos para que os países subalternos implantassem a nova ordem internacional. Dessa forma, nas décadas de 1950 a 1980, os países da América Latina se desenvolviam através de financiamento a juros baixos. No entanto, tendo em vista a segunda crise do petróleo, ocorrida em 1979, houve o aumento dos juros impostos pelo FED (Banco Central dos Estados Unidos), como uma política de defesa do dólar, que foi acompanhado por diversos outros países, como a Inglaterra.
Devido ao aumento dos juros, os países em desenvolvimento que haviam realizado empréstimos tiveram dificuldades para honrar com os seus pagamentos, ocorrendo aumento da inflação, queda de renda, aumento do desemprego e, em 1982, o México declarou moratória. Ou seja, estava-se diante da chamada “crise da dívida externa”. Belluzzo e Galipolo afirmam:
Em Belgrado, na reunião do FMI em 1979, o presidente do FED – o Banco Central americano – Paul Volcker, deixou os europeus falando sozinhos, voltou para os Estados Unidos e deflagrou o famoso choque de juros de outubro de 1979, alçado até 20% em abril de 1980 e provocando uma quebradeira geral, sobretudo dos endividados, como o Brasil (BELUZZO, 2017, p. 27)
Diante desse cenário, os países recorreram a empréstimos junto ao FMI (instituição pública, mantida através do financiamento e voto de seus países membros, onde apenas os Estados Unidos tem poder de veto, dando a este país extrema vantagem diante dos outros). Quanto a isso Stiglitz expõe que,
O FMI é uma instituição pública, mantida com dinheiro fornecido pelos contribuintes do mundo todo. É importante lembrar disso porque o Fundo não se reporta diretamente nem aos cidadãos que o financiam nem àqueles cuja vida ele afeta. Em vez disso, reporta-se aos ministros da fazenda e aos bancos centrais dos governos do mundo […] mas as principais nações desenvolvidas comandam o espetáculo, sendo que somente um país, os estados Unidos, tem poder de veto (STIGLITZ, 2003, p. 39)
Esses empréstimos vinham acompanhados de exigência do cumprimento de algumas condições, como ajuste fiscal, diminuição da máquina do Estado, privatizações e, segundo o referido autor, quem “não seguir as regras do jogo, pode ser excluído do sistema de crédito internacional” (SCHWARTZ, 2008, P. 257), não permitindo ao país receptor da ajuda financeira governar a sua nação implantando as medidas que ache cabíveis. Em vez disso, a política econômica a ser colocada em prática já está pré-determinada pela hegemonia do capital financeiro. Dessa forma, o FMI foi usado como uma forma de universalizar o discurso hegemônico e impor o modelo econômico neoliberal aos países endividados. Verifica-se que
No nível exclusivo da política externa, as grandes potências têm uma liberdade relativa de determinar suas políticas externas em resposta a interesses nacionais; as potências menores têm menos autonomia. A vida econômica das nações subordinadas é invadida pela vida econômica de nações poderosas […] o Estado dominante encarrega-se de garantir a aquiescencia de outros Estados de acordo com uma hierarquia de poderes na interior da estrutura de hegemonia entre os Estados (COX, 2007, p. 114 e 120)
Pontua-se, ainda, que em 1989 ocorreu o Consenso de Washington que consistiu em um seminário com representantes de instituições financeiras como o FMI, Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, no intuito de “ajudar” a economia dos países em desenvolvimento, para que estes conseguissem arcar com os seus compromissos financeiros. Ou seja, na verdade, o intuito da reuinão foi impedir que os bancos privados recebessem um calote e o sistema financeiro internacional sofresse prejuízo. Nessa encontro, ficou determinado que os países ajudados financeiramente deveriam implementar dez medidas: disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, determinação de juros e câmbio pelo mercado, liberalização do comércio, investimento estrangeiro direto sem nenhuma restrição, privatização das empresas estatais, desregulamentação e respeito à propriedade intelectual. A respeito do assunto Rafael Vaz da Motta Brandão afirma que
[…] o congresso realizado na capital dos EUA, permitiu a elaboração de um conjunto de medidas neoliberais que deveriam ser seguidas pelos países da América Latina em troca da continuidade do financiamento por parte das agências e organismos internacionais (FMI e Banco Mundial). A esse conjunto de medidas deu-se o nome de “consenso de Washington”. Basicamente, podemos afirmar que o consenso de Washington fazia pate de amplo conjunto de reformas neoliberais que estava centrado na desregulação dos mercados, na abertura comercial, na liberalização dos fluxos de capitais, em uma rigorosa política monetária e fiscal e, fundamentalmente, na redução do papel do Estado nos países latino-americanos (BRANDÃO, 2013, p. 61).
Verifica-se que as “orientações”, em termos práticos, não passavam de verdadeiras imposições, construindo-se um discurso hegemônico mundial a favor de contrarreformas, ou seja, mudanças contrárias aos interesses da classe trabalhadora, transformando esse padrão em um modelo a ser imposto aos países latino-americanos. A esse respeito Cox afirma
[…] uma hegemonia mundial é, em seus primórdios, uma expansão para o exterior da hegemonia interna (nacional) estabelecida por uma classe social dominante. As instituições econômicas e sociais, a cultura e a tecnologia associadas a essa hegemonia nacional tornam-se modelos a serem imitados no exterior. Essa hegemonia expansiva é imposta aos países mais periféricos como uma revolução passiva (COX, 2007, p. 118)
Vale ressaltar que, segundo Stigliz, essas instituições são controladas pelos interesses dos países industrializados mais ricos do mundo, onde opera a hegemonia do capital financeiro, não representando, portanto, as pretensões dos países que são obrigados a realizarem as reformas estruturais em troca de benefício financeiro. Nas palavras de Stiglitz:
As instituições são controladas não só pelos países industrializados mais ricos do mundo, mas também pelos interesses comerciais e financeiros desses países […] embora quase todas as atividades atuais do FMI e do Banco Mundial sejam no mundo em desenvolvimento (com certeza, todas relativas a empréstimos), elas são conduzidas por representantes das nações industrializadas (por acordo tácito ou de praxe, o diretor do FMI é sempre europeu e o diretor do Banco Mundial, norte-americano). Eles são escolhidos a portas fechadas e nunca foi considerado pré-requisito que esse profissional tenha qualquer experiência no mundo em desenvolvimento. As instituições não são representativas das nações a que servem […] A instituição, na verdade, não tem a pretensão de ser uma especialista em desenvolvimento STIGLITZ, 2003, p. 46 e 63)
Desta forma, verifica-se que os Estados Unidos, utilizando essas organizações como instrumento de poder, como meio de disseminação de hegemonia, determina a política que será implantada nos outros países, que, juntamente com governos classistas, facilita a imposição da hegemonia que os Estados Unidos quer. Segundo Cox
As instituições internacionais também desempenham um papel ideológico. Elas ajudam a definir diretrizes políticas para os Estados e a legitimar certas instituições e práticas no plano nacional, refletindo orientações favoráveis às forças sociais e econômicas dominantes (COX, 2007, p. 120)
Diante disso, é notória a rendição do Brasil a essas instituições financeiras, basta verificar a quantidade de empréstimos que o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, conseguiu junto ao FMI. Segundo o jornal Folha de São Paulo
FHC fechou três acordos com o FMI […]Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, foram fechados outros dois acordos com o FMI […] o primeiro, foi fechado em novembro de 1998 […] o acordo fechado em novembro de 1998 previa metas de ajuste fiscal até o final de 2001. Foram definidas metas de superávits primários (receitas menos despesas sem incluir despesas com juros) a cada trimestre e todas foram cumpridas. A cada revisão do acordo, feita pela missão técnica do FMI, o país tinha direito a um novo saque dos recursos disponibilizados. O Brasil não chegou a sacar todos os recursos a que tinha direito nesse acordo. Apesar disso, em setembro de 2001[…] as turbulências do mercado internacional […] forçaram o governo brasileiro a assinar um novo acordo com o Fundo. Esse novo acordo […] cancelou o crédito restante do acordo de 1998 […] o governo brasileiro teve que recorrer ao FMI em junho [do ano de 2002] (Folha de São Paulo, 07 ago. 2002).
Após emprestar o dinheiro e definir as metas, o FMI realiza visitas para verificar se estas estão sendo cumpridas. É possível perceber que todas as medidas impostas pelo Fundo foram cumpridas durante o governo mencionado. Se elas não haviam sido satisfeitas, não seria viável os recebimentos posteriores, pois “se um país não puder apresentar um número mínimo de parâmetros, o FMI suspende a ajuda e, geralmente quando o faz, outros doadores também o fazem” (STIGLITZ, 2003, p. 56). Além disso, segundo Brandão, “o maior doador da campanha de FHC em 1998 foi o grupo Itaú” (BRANDÃO, 2003, p. 107), demonstrando como o governo brasileiro estava “jogando o jogo” dos interesses dos bancos e do sistema financeiro internacional, não governando conforme os interesses da população, se permitindo ser refém da imposição do discurso hegemônico pró-neoliberalismo.
Ao se construir o discurso pró-neoliberalismo, no século XX, as promessas eram de crescimento econômico, progresso, combate à miséria, mas não foram cumpridas. O que se viu em diversos países foi aumento do desemprego, crises financeiras cada vez mais frequentes, elevação da pobreza, conforme apontado por Stigliz.
Pode-se até considerar que o neoliberalismo foi bem sucedido no que diz respeito à redução da inflação, trazendo uma estabilidade macroeconômica, de uma maneira geral, aos países que o implementaram. Contudo, o preço que a sociedade paga por esse benefício é bem caro, pois, o resultado dessas implementações de medidas de caráter liberal tem sido retirada de direitos, através de contrarreformas tributárias, trabalhistas, previdenciárias, privatizações, aumento do desemprego, desigualdade, pobreza, caos político e social, recessão, redução de gastos sociais, segundo Pires. No entanto, nada disso atinge negativamente o sistema financeiro porque,
Partindo do pressuposto de que só o capital concentrado cria riquezas, isto é, aumento de capital significa investimentos, o desemprego, ou melhor, a taxa natural de desemprego, que faz diminuir os salários, garante maior taxa de lucro e, portanto, maior acumulação de capital. Desta forma, o desemprego não é uma consequência indesejada da economia neoliberal, mas um de seus componentes estratégicos (PIRES, 1999, p. 43).
E Varoufakis completa
É como se as sociedades capitalistas fossem desenhadas para gerar crises periódicas, que vão piorando na medida em que retiram o trabalho humano do processo de produção e o pensamento crítico do debate público (VAROUFAKIS, 2017, p. 48).
Conclusão
Diante do exposto, verifica-se que Gramsci entende que o discurso hegemônico é construído através de coerção e consenso. Através da atuação dos partidos políticos, reafirmados pela utilização dos aparelhos privados de hegemonia, ocorre uma reforma intelectual na classe subalterna e esta, por sua vez, passa a querer aquilo que a classe dominante deseja, se comportando como uma massa de manobra.
Dessa forma, a classe dominada passa a ser a favor de privatizações, contrarreformas, neoliberalismo, etc, sem perceber que essas mudanças só os prejudicam, pois retiram direitos consagrados na Constituição, ocasionando aumento do desemprego e da pobreza, por exemplo. Nesse contexto, no caso brasileiro, verifica-se que a reforma da previdência de 1998, durante o governo de FHC foi consequência da construção do discurso hegemônico pró-neoliberalismo.
A construção da hegemonia não se dá apenas no campo nacional, mas também em âmbito internacional. Através do uso das instituições multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, os países em desenvolvimento se vêem obrigados a implantar a nova ordem internacional. Pois, ao solicitarem empréstimos a essas organizações, são obrigados a cumprirem diversas exigências que culmina na retirada de direitos da sociedade através de contrarreformas, privatizações, diminuição da máquina do Estado, entre outras de caráter liberal.
Diante da quantidade de empréstimo que FHC conseguiu com o FMI durante o seu governo, bem como por ter sido um banco o maior doador da sua campanha, é indubitável sua rendição à dominação da hegemonia do capital financeiro, demonstrando que a reforma previdenciária realizada durante o seu governo não passou de mais uma exigência do grande capital e da construção da hegemonia pró-neoliberal em âmbito internacional que não encontrou resistência durante o seu governo.
Referências bibliográficas
ALMEIDA, Gelsom Rozentino de. NETO, Sydenham Lourenço. Estado, hegemonia e luta de classes: interesses organizados no Brasil recente. Bauru, SP, Editora Canal 6, 2012
BELLUZO, Luiz Gonzaga; GALÍPOLO, Gabriel. Manda quem pode, obedece quem tem prejuízo. São Paulo: Ed. Contracorrente, 2017.
BRANDÃO, Rafael Vaz da Motta. Ajuste neoliberal no Brasil: desnacionalização e privatização do sistema bancário no governo Fernando Henrique Cardoso (1995/2002). 2013. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013.
CARDOSO, Fernando Henrique. Discurso de despedida do Senado Federal: filosofia e diretrizes de governo. Brasília, 1994. Disponível em: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/discurso-de-despedida-do-senado-federal-1994
CARDOSO, Fernando Henrique. Discurso de posse: 1 de janeiro de 1995. Brasília, 1995. Disponível em: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/discurso-de-posse-1995.
COX, Robert. Gramsci, hegemonia e relações internacionais: um ensaio sobre o método. In: GILL, Stephen (org.). Gramsci: materialismo histórico e relações internacionais. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2007.
COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.
FOLHA DE SÃO PAULO. Brasília, 7 ago. 2002. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u53074.shtml
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, vol. 2
GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1989.
JORNAL O GLOBO. Diversos números. 1995.
MARINHO, Pedro Eduardo Mesquita de Monteiro. O Centauro Imperial e o “Partido” dos Engenheiros: a contribuição das concepções gramscianas para a noção de Estado Ampliado no Brasil Império. In: MENDONÇA, Sonia Regina de (org.). Estado e Historiografia no Brasil. Niterói: Ed. UFF, 2006.
SCHWARTZ, Gilson. Conferência de Bretton Woods (1944). In: MAGNOLI, Demétrio (org.). História da paz. São Paulo: Editora Contexto, 2008.
STIGLITZ, Joseph E. A globalização e seus malefícios: a promessa não-cumprida de benefícios globais. São Paulo: Ed. Futura. 4a edição, 2003.
VAROUFAKIS, Yanis. O minotauro global: a verdadeira origem da crise financeira e o futuro da economia. São Paulo: Editora autonomia literária, 2017.