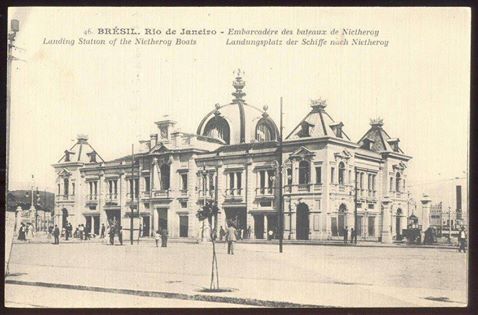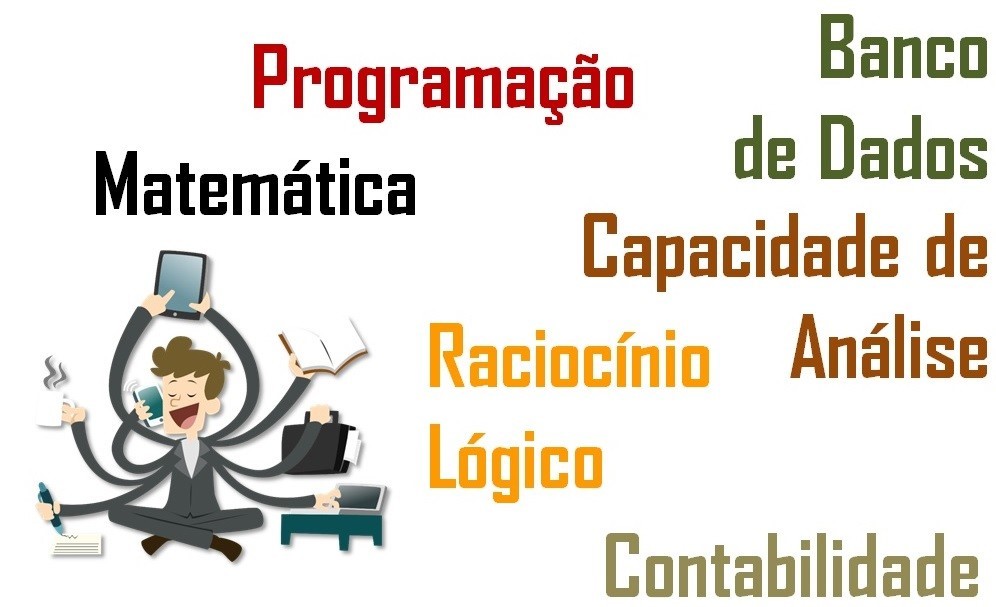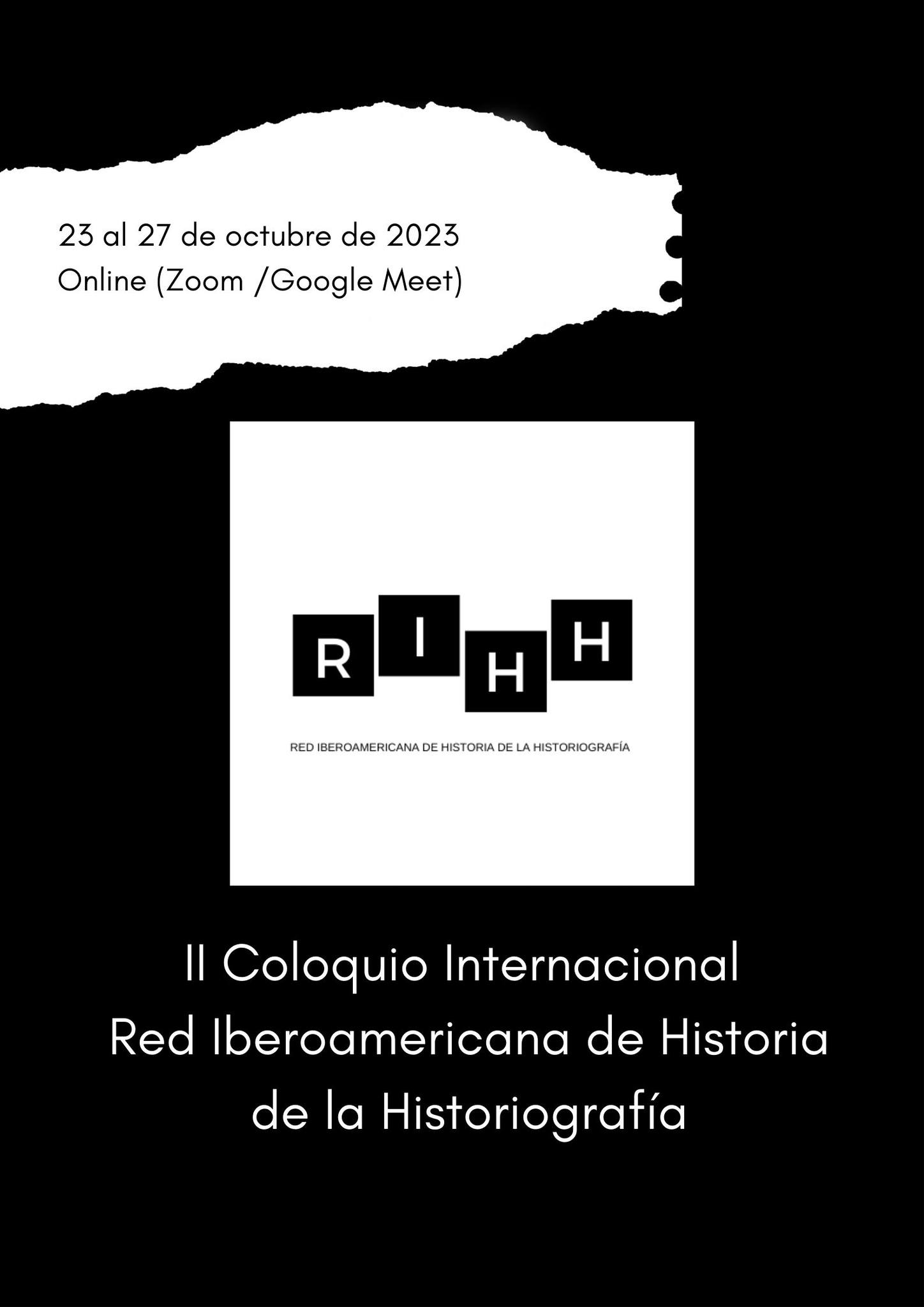Monumentos brasileiros são iluminados em razão do bicentenário de episódio histórico
Cristo Redentor e MAC-Niterói ganharam iluminação celeste em homenagem à Independência do Uruguai
🕒 Tempo estimado de leitura : 4 minutos
Na última segunda-feira, 25 de agosto, em razão dos 200 anos da Independência do Uruguai, dois importantes monumentos brasileiros foram iluminados com o azul celeste para homenagear o país vizinho: o Cristo Redentor e o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), projetado por Oscar Niemeyer.
O monumento carioca foi iluminado na sexta, 22 de agosto, e a ação foi fruto de parceria entre o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, a Embaixada do Uruguai no Brasil e o Consulado Geral do Uruguai no Rio de Janeiro.
- Obtenha no site da UFF a tese de doutorado do historiador Fábio Ferreira e saiba como o “Uruguai” uniu-se ao Brasil. Clique aqui.
O MAC ficou celeste no dia 27, em razão de parceria entre o consulado uruguaio e a prefeitura de Niterói, sendo importante lembrar que a antiga capital fluminense e Canelones (cidade do Uruguai a 45km de Montevidéu) se tornaram cidades irmãs em março deste ano. Em dezembro, em solo niteroiense, haverá a 30ª Cúpula do Mercocidades (Associação de Cidades do Mercosul). Em 2026, Niterói presidirá o mencionado grupo.
A Independência do Uruguai

Em 1825 houve o Congreso de La Florida, no interior do território que é hoje o Uruguai. Nele, no dia 25 de agosto, os representantes de diversas áreas da então Província Cisplatina, à altura parte do Brasil, fizeram duas importantes declarações: a de anulação de sua união ao Império de Pedro I e a de sua reincorporação às demais províncias argentinas, ou seja, às Províncias Unidas do Rio da Prata, com capital em Buenos Aires. Em dezembro, o imperador brasileiro declarou guerra aos portenhos, conflito que durou até 1828 e contribuiu para a sua queda em 1831.
Série de lives
Em razão dos bicentenários da emancipação uruguaia e da primeira guerra externa do Brasil independente, a Revista Tema Livre iniciou, no dia 20 de agosto, a série de lives dedicada ao assunto. O primeiro convidado foi o Prof. Dr. Fábio Ferreira. Como de praxe, a publicação receberá em seu canal do YouTube pesquisadores de diversas instituições que realizam investigações acadêmicas dedicadas ao assunto para debater a Cisplatina.
Cite a matéria corretamente:
REVISTA TEMA LIVRE. Monumentos brasileiros são iluminados em razão do bicentenário de episódio histórico. Niterói, 28 ago. 2025. Disponível em: https://revistatemalivre.com/monumentos-brasil-independencia-uruguai Acesso em: [colocar a data].
Assista à 1a live da série
Se inscreva no canal da revistatemalivre.com no YouTube clicando em:
https://youtube.com/@revistatemalivre
Perguntas Frequentes (FAQ)
Por que o Cristo Redentor e o MAC-Niterói foram iluminados em azul celeste?
A iluminação foi uma homenagem aos 200 anos da Independência do Uruguai, celebrada em 25 de agosto de 2025.
Qual a relação entre Niterói e o Uruguai?
Niterói e Canelones se tornaram cidades irmãs em março de 2025. Além disso, Niterói sediará em dezembro a 30ª Cúpula do Mercocidades e em 2026 presidirá a associação.
O que foi a Guerra da Cisplatina?
A Guerra da Cisplatina (1825–1828) foi o primeiro conflito externo do Brasil independente. Teve início em 10 de dezembro de 1825.
Como foi a atuação indígena na Cisplatina? Leia o artigo do Prof. Dr. Fábio Ferreira (UFF) publicado no projeto Indígenas na História (Associação Nacional de História/ANPUH) clicando aqui.
Saiba mais sobre o Uruguai no site da revistatemalivre.com:
Clique aqui e saiba como o “Uruguai” passou a fazer parte do Brasil: a criação da Cisplatina.
Saiba mais sobre Artigas, o principal herói nacional uruguaio.
Conheça os detalhes da Guerra da Cisplatina clicando aqui.
Sugestão de leitura (artigo): Sequestros e tráfico de escravizados na fronteira Brasil x Uruguai.
Leia a entrevista com a Prof.ª Dr.ª Ana Frega (Udelar), realizada em Montevidéu, sobre a História do Uruguai.
Saiba mais sobre a Cisplatina:
– Artigo acadêmico “A Armada Imperial e o Estado Cisplatino Oriental no contexto da construção dos Estados Nacionais na América do Sul (1822 – 1824)” editado na Revista Navigator: https://www.portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/navigator/article/view/5584
– Artigo acadêmico “Da América Espanhola à Portuguesa: aspectos políticos e administrativos
do Estado Cisplatino Oriental no contexto das Independências” na Revista Contraponto. Clique em: https://revistas.ufpi.br/index.php/contraponto/article/viewFile/14489/8706
Sugestões de leitura:
– Capítulos de livros:
FERREIRA, Fábio. O 1808 português e espanhol e os seus desdobramentos na Banda Oriental do Rio da Prata. In: ORTIZ ESCAMILLA, Juan; FRASQUET, Ivana (Orgs.). Jaque a la corona: la cuestión política en las independencias ibero-americanas. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I/Servei de Comunicació i Publicacions, 2010.
_____________. A participação de índios e negros no exército português: o caso da Cisplatina. In: TAVARES, Célia; RIBAS, Rogério (Org.). Hierarquias, raça e mobilidade social. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2010.
Acesse a seção Notícias da Revista Tema Livre: clique aqui.
Confira a edição atual da Revista Tema Livre clicando aqui.
Gostou do conteúdo? Ajude a divulgar esta história! Compartilhe:
Tempo de leitura estimado: 9 minutos
Uma cidade entre dois mundos: indígena e colonial
Em 2025, completam-se 700 anos da fundação de Tenochtitlan, cidade lacustre erguida pelos mexicas no lago Texcoco por volta de 1325. Esse marco serve como ponto de partida não apenas para a memória histórica do povo mexica, mas também para compreender o desenvolvimento urbano, político e simbólico do que hoje é a Cidade do México — uma das maiores metrópoles do mundo e centro nervoso da vida política e cultural do país.
A efeméride, oficialmente celebrada pelo governo mexicano em julho de 2025, retoma as três datas-símbolo definidas desde 2021: 700 anos da fundação de México-Tenochtitlan, 500 anos da resistência indígena e 200 anos da consumação da independência. Mas, mais que somar datas, trata-se de refletir sobre os processos que moldaram a capital mexicana — da cidade cerimonial à megacidade globalizada.
A fundação de Tenochtitlan e as fontes históricas
A narrativa tradicional da fundação remonta ao mito da peregrinação mexica, que culmina com o sinal sagrado: uma águia pousada sobre um cacto devorando uma serpente. Segundo as fontes indígenas compiladas no século XVI, como o Códice Boturini e o relato de Chimalpahin, esse evento ocorreu em 1325, embora haja divergências entre os estudiosos quanto à precisão cronológica.
O historiador Miguel Pastrana, da UNAM, observa que “os mexicas não datavam os eventos segundo o calendário europeu, e muito do que sabemos provém de fontes pós-conquista, com reconstruções simbólicas.” Em sua obra Tenochtitlan: la caída de un imperio (UNAM/INAH, 2021), coordenada com Eduardo Matos Moctezuma e María Castañeda de la Paz, Pastrana adverte para o risco de tratar 1325 como data exata: “é antes uma referência político-cultural.”
Tenochtitlan foi projetada como uma cidade-estado organizada em torno do Templo Mayor, com canais navegáveis, bairros especializados (calpulli), e um sistema político centrado no tlatoani. Já no século XV, era capital do império asteca, governado em aliança com Texcoco e Tlacopan — a chamada Tríplice Aliança.
A destruição e a refundação sob domínio espanhol
Com a chegada dos espanhóis em 1519, liderados por Hernán Cortés, iniciou-se um processo brutal de conquista. A resistência mexica culminou em 1521, com a destruição de Tenochtitlan. Sobre suas ruínas, os espanhóis fundaram a Cidade do México, símbolo da dominação colonial, mas também do sincretismo forçado entre culturas.
Conforme demonstra o arqueólogo Leonardo López Luján, diretor do Projeto Templo Mayor, a destruição foi material e simbólica: o novo poder buscava apagar as marcas da cultura mexica, construindo igrejas e palácios sobre templos indígenas. No entanto, vestígios e resistências permaneceram — e alimentam hoje debates sobre memória e patrimônio.
A Cidade do México independente e moderna
Após a consumação da independência do México, em 1821, a capital passou a exercer papel ainda mais central. Durante o século XIX, enfrentou invasões estrangeiras (como a ocupação dos EUA e o império de Maximiliano), mas também impulsionou reformas liberais, educação e o ideal de “civilização” do novo Estado-nação.
A partir do século XX, com a Revolução Mexicana (1910–1920), a Cidade do México tornou-se um palco de experimentações políticas, artísticas e urbanas. O muralismo — com Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros e José Clemente Orozco — consolidou a cidade como capital cultural latino-americana. Ao longo do século, a expansão urbana transformou seu perfil: de cidade histórica a megacidade desigual, mas vibrante.
Tenochtitlan vive? Memória indígena e política pública
A celebração dos 700 anos reacendeu debates sobre a presença indígena na capital. Iniciativas como a instalação do monumento Tlálmanalli, inspirada no Teocalli da Guerra Sagrada, e o timbre postal comemorativo com QR code histórico, são parte do esforço do governo federal e da prefeitura em revalorizar o passado mexica como fundacional para o México contemporâneo.
A presidenta Claudia Sheinbaum, em pronunciamentos recentes, destacou que Tenochtitlan representa “organização, poder, ciência e arte indígena” — posicionando a história pré-hispânica como pilar identitário da nação. Essa leitura ecoa políticas da chamada Quarta Transformação, que busca incluir povos originários na memória oficial, ainda que sob críticas e disputas simbólicas.
Entre mito, ruína e cidade viva
Os 700 anos da fundação de Tenochtitlan não são apenas celebração, mas oportunidade para repensar como a história urbana se constrói: sobre ruínas, resistências e permanências. A Cidade do México continua sendo palco de contradições: modernidade e desigualdade, tradição e apagamento, mas também memória e reinvenção.
Como lembram os historiadores do INAH e da UNAM, o passado mexica não é apenas arqueológico: ele vive nos nomes das ruas, nos mercados, nas danças, nas línguas indígenas faladas por milhares. Tenochtitlan persiste — não como ruína, mas como cidade viva no coração da capital mexicana.
A decisão do governo Trump de elevar tarifas contra produtos brasileiros retoma 200 anos de relações entre Brasil e Estados Unidos, marcadas por alianças estratégicas, disputas comerciais e redefinições geopolíticas.
Da redação.
![]() Tempo estimado de leitura: 7 minutos
Tempo estimado de leitura: 7 minutos
O novo pacote de tarifas norte-americanas sobre produtos brasileiros, anunciado em julho de 2025 pelo governo de Donald Trump, reacendeu tensões político-diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. As medidas afetam relevantes setores da economia brasileira, como o agronegócio e a siderurgia, sendo que o episódio expõe também a assimetria persistente entre os dois países mesmo após dois séculos de relações formais.
O início: Brasil Império
Os Estados Unidos foram um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil. O fez em 1824, antes da Inglaterra e de Portugal. Em linhas gerais, ao longo do século XIX, o Império via os EUA com certa reserva, mas também pragmaticamente como alternativa à hegemonia europeia.
- Leia o artigo do historiador Fábio Ferreira: Além do Ipiranga: uma história muito mais complexa da Independência
A República e a aproximação estratégica

Com a proclamação da República em 1889, o Brasil passou a olhar os EUA como referência institucional, inclusive o país sul-americano adotou a designação Estados Unidos do Brasil. A inspiração no modelo federativo norte-americano foi igualmente visível na Constituição de 1891.
A nova ordem republicana reforçou os laços comerciais e diplomáticos, mas o relacionamento permaneceu baseado em interesses pontuais. Além disto, não anulou-se a influência europeia em outros âmbitos da sociedade. Como exemplo, diversas cidades brasileiras foram remodeladas inspiradas em Paris, basta lembrar-se da reforma Passos no Rio de Janeiro, ainda que no início do século XX tenha havido uma aproximação estratégica com os estadunidenses, vistos como contrapeso à influência britânica.
- Saiba mais sobre a influência francesa no Brasil e a Bellé Époque clicando aqui.
A Segunda Guerra Mundial e a industrialização brasileira
Durante o Estado Novo (1937 – 1945), Getúlio Vargas utilizou a rivalidade entre a Alemanha e os EUA para negociar vantagens para o Brasil. Neste contexto, surgiram acordos como o que resultou em empréstimo norte-americano ao governo brasileiro para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional (CNS), em Volta Redonda, no interior do Estado do Rio de Janeiro. O envio da Força Expedicionária Brasileira (FEB) à Europa reforçou o papel do país como aliado estratégico. Ao fim da guerra, os EUA exerceram papel central no redesenho da ordem internacional — e o Brasil buscou, com ambivalência, manter seu espaço nesse novo cenário.
Crises e tensões durante a Guerra Fria
Ao longo da Guerra Fria (1947 – 1991), os Estados Unidos intensificaram sua presença política, econômica e militar na América Latina. Um dos episódios que merece destaque foi o apoio estadunidense ao golpe de 1964: diante da percepção de que o governo de João Goulart flertava com setores da esquerda latino-americana, os EUA passaram a considerar sua deposição. Durante a chamada Operação Brother Sam, embarcações militares foram mobilizadas para oferecer suporte logístico aos golpistas brasileiros — embora não tenham sido efetivamente utilizadas, pois Goulart não resistiu. O apoio diplomático e econômico estadunidense veio em seguida, com o reconhecimento imediato do governo militar recém instalado e envio de recursos financeiros para a economia brasileira.
- Resistência armada evitou golpe militar em 1961. Saiba mais clicando aqui.
Na década de 1970, a política externa estadunidense sob a presidência de Jimmy Carter colocou nova pressão sobre o Brasil. A defesa dos direitos humanos tornou-se prioridade, e o regime militar brasileiro passou a ser alvo de denúncias formais. Os EUA tentaram, ainda, interferir no acordo nuclear firmado entre o Brasil e a Alemanha, que resultou na construção da Usina de Angra dos Reis, no litoral fluminense. O desconforto gerado levou o governo brasileiro a romper unilateralmente um acordo militar de cooperação com os EUA, em um dos pontos mais agudos da crise diplomática entre os dois países naquela década.
O papel dos EUA durante a ditadura segundo James N. Green

Em entrevista concedida à Revista Tema Livre durante o XXII Encontro Nacional de História, o historiador norte-americano James N. Green destacou o papel de acadêmicos, ativistas e clérigos dos EUA na denúncia da repressão no Brasil. Segundo o brasilianista:
“Esses acadêmicos e clérigos montaram um comitê para denunciar internacionalmente a tortura e a repressão no Brasil. […] Colocaram avisos pagos no New York Times denunciando, por exemplo, a prisão do Caio Prado Júnior em 1970, tentando criar uma nova imagem do Brasil.”
Green também relembrou a atuação de parlamentares norte-americanos, como o senador Frank Church, que realizou uma CPI em 1971 sobre o apoio dos EUA a regimes que violavam direitos humanos. Segundo o historiador, essa articulação teve impacto político em Washington e contribuiu para pressionar o governo brasileiro.
Leia a entrevista completa com o Prof. Dr. James N. Green clicando aqui.
Espionagem no século XXI
Em 2013, veio à tona outro episódio de forte desgaste nas relações entre os dois países americanos. Documentos vazados por Edward Snowden revelaram que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) espionava autoridades brasileiras, incluindo a então presidente Dilma Rousseff. A revelação gerou crise diplomática imediata: a presidente cancelou uma visita oficial aos EUA, e a confiança mútua foi severamente abalada. A normalização das relações só viria dois anos depois, nos momentos finais do governo Obama, por meio de canais diplomáticos discretos.
Tarifas de 2025: uma reedição de velhas assimetrias
A imposição de novas tarifas pelo governo Trump contra produtos brasileiros, em 2025, reacende debates antigos sobre dependência econômica, vulnerabilidade comercial e assimetrias estruturais entre Brasil e Estados Unidos. O gesto político, embora recente, está inserido em um padrão histórico que combina cooperação estratégica com disputas por espaço e influência. A história das relações entre os dois países é marcada menos por consensos duradouros e mais por reconfigurações periódicas, à medida que os contextos regionais e globais se transformam.
📌 Perguntas Frequentes (FAQ)
Quando os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil?
Os EUA reconheceram a independência do Brasil em 1824, antes de Portugal e da Inglaterra.
O que foi a Operação Brother Sam?
Foi uma operação de apoio logístico dos EUA ao golpe de 1964, com embarcações posicionadas para auxiliar os militares brasileiros, embora não tenham sido usadas.
Quais foram os impactos da política de Jimmy Carter nas relações com o Brasil?
Durante seu governo, os EUA pressionaram o Brasil por violações aos direitos humanos e questionaram acordos nucleares com a Alemanha.
O que gerou a crise diplomática durante o governo de Barack Obama entre Brasil e EUA?
A revelação de que a NSA espionava autoridades brasileiras, incluindo a presidente Dilma Rousseff, provocou uma grave crise diplomática.
O que motivou a imposição de tarifas contra o Brasil pelo governo Trump em 2018?
Em 2018, o governo Trump impôs tarifas sobre o aço e o alumínio brasileiro alegando preocupações com segurança nacional, num contexto de política protecionista.
O que são as tarifas EUA Brasil 2025?
Tarifas de 50% para a importação de diversos produtos brasileiros. A decisão foi interpretada por analistas como parte de uma estratégia de pressão econômica e política.
Como o Brasil reagiu oficialmente às medidas de Trump?
O governo brasileiro apresentou notas diplomáticas de protesto, buscou negociação bilateral para reversão das tarifas e notificou o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC), argumentando violação de acordos multilaterais.
Cite a matéria corretamente:
REVISTA TEMA LIVRE. Relações Brasil–EUA: 200 anos entre disputas e alianças. Niterói, 23 jul. 2025. Disponível em: https://revistatemalivre.com/relacoes-brasil-eua-200-anos-disputas-e-aliancas/ Acesso em: [colocar a data].
Gostou do conteúdo? Ajude a divulgar esta história! Compartilhe:
Shorts da Revista Tema Livre: Israel vs Irã: saiba como começou a rivalidade em menos de 1 minuto.
Para mais história:
Se inscreva no canal da Revista Tema Livre no YT:
https://youtube.com/revistatemalivre?sub_confirmation=1
Assista
Leia:
Acesse a seção Notícias da Revista Tema Livre: clique aqui.
Confira a edição atual da Revista Tema Livre clicando aqui.
Neoliberalismo: História em 1 Minuto
Pesquisa do MIT aponta que o uso frequente do ChatGPT para redigir textos pode afetar negativamente a memória e o engajamento cognitivo de seus usuários.
Tempo estimado de leitura: 6 minutos
O uso intensivo de inteligência artificial em contextos educacionais tem ganhado destaque nos últimos anos. Agora, uma pesquisa conduzida pelo MIT Media Lab adiciona um novo elemento ao debate: o possível impacto do ChatGPT nas funções cognitivas humanas. O estudo indica que a dependência de assistentes de IA durante a escrita acadêmica pode comprometer a memória imediata, reduzir a conectividade neural e diminuir o engajamento cognitivo.
Metodologia da pesquisa
Ao longo de quatro meses, 54 participantes com perfis diversos participaram de um experimento realizado pelo MIT Media Lab. Os voluntários foram divididos em três grupos distintos:
Grupo 1 (Controle): redigiu textos sem qualquer recurso externo;
Grupo 2 (Busca): utilizou motores de busca como suporte (ex.: Google);
Grupo 3 (IA): utilizou o ChatGPT (modelo GPT-4o) como assistente.
Cada participante produziu três redações enquanto era monitorado por encefalografia (EEG), com o objetivo de medir a atividade cerebral e o esforço cognitivo durante as tarefas. Os textos também foram avaliados por docentes e por sistemas automatizados de análise linguística. Uma etapa adicional permitiu que parte dos voluntários migrasse de grupo, ampliando a compreensão sobre a adaptação cerebral ao uso da IA.
Principais resultados: o conceito de dívida cognitiva
Os dados revelaram que o grupo que escreveu sem apoio externo apresentou os mais altos índices de conectividade cerebral, memória ativa e engajamento. Por outro lado, os participantes que utilizaram o ChatGPT mostraram redução nas ondas cerebrais alfa e beta, associadas a processos de linguagem e reflexão.
O estudo introduz o conceito de dívida cognitiva, uma espécie de custo invisível associado à redução do esforço mental imediato. Essa dívida compromete a consolidação da memória, o raciocínio crítico e a autonomia intelectual a longo prazo. Em termos práticos, 15 dos 18 participantes do grupo que usou o ChatGPT foram incapazes de recitar trechos dos textos que haviam produzido minutos antes. Já no grupo que usou o Google, apenas dois apresentaram essa dificuldade; no grupo controle, apenas um.
Além disso, os textos gerados com ajuda da IA demonstraram menor originalidade e diversidade lexical, dificultando inclusive o reconhecimento do conteúdo por seus próprios autores.
Limitações e recomendações
Os autores do estudo reconhecem o caráter preliminar da pesquisa e recomendam novas investigações com uso de ferramentas mais sofisticadas, como ressonância magnética funcional (fMRI), além da ampliação do escopo e diversidade das tarefas cognitivas.
Referência
KOS’MYNA, Nataliya; HOCHBERG, Eric; JACOBS, Cassidy et al. Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task. MIT Media Lab, 10 jun. 2025. Preprint disponível em: https://www.media.mit.edu/publications/your-brain-on-chatgpt/
Em uma das descobertas arqueológicas mais importantes da década, pesquisadores revelaram estruturas urbanas de 3.500 anos que reescrevem a história pré-colombiana.
Da redação
⏱️ Leitura estimada: 7 minutos
Em um dos anúncios arqueológicos mais marcantes das últimas décadas, pesquisadores peruanos revelaram, na última quinta-feira, 3 de julho de 2025, a existência de um centro urbano milenar até então desconhecido: Peñico. Situada a cerca de 200 km de Lima, no Peru, a cidade tem aproximadamente 3.500 anos e oferece uma nova perspectiva sobre as civilizações indígenas que floresceram no continente sul-americano.
A descoberta foi o resultado de oito anos de escavações contínuas, conduzidas por equipes lideradas pela arqueóloga Ruth Shady, também responsável pelo sítio de Caral. O anúncio não apenas reposiciona Peñico no mapa da arqueologia andina, como também reforça a complexidade e sofisticação das culturas indígenas muito antes do contato com o mundo europeu.
- Mais sobre arqueologia na Revista Tema Livre. Leia a matéria: Novos sítios arqueológicos são descobertos no litoral fluminense
O que é Peñico e onde fica?
Peñico está localizada na província de Barranca, numa zona de transição entre o litoral peruano e a Cordilheira dos Andes, próxima ao vale do rio Supe. O sítio compreende 18 estruturas identificadas até o momento, incluindo templos, praças circulares e plataformas residenciais dispostas em terraços a aproximadamente 600 metros de altitude.
- Como foi a atuação indígena na Cisplatina? Muitas vezes ignorada, o trabalho dos povos originários marcou capítulo da história do Brasil e de Portugal no rio da Prata. Leia o artigo do Prof. Dr. Fábio Ferreira (UFF) publicado no projeto Indígenas na História (Associação Nacional de História/ANPUH) clicando aqui.
Foram encontrados diversos artefatos, como conchas oceânicas, cerâmicas finas e instrumentos rituais, que indicam que Peñico funcionava como um ponto nodal entre o Pacífico, os Andes e regiões da bacia amazônica — possivelmente incluindo áreas que hoje compreendem a Amazônia brasileira.
Dados Chave sobre Peñico
- Período: 1800-1500 a.C.
- Localização: Barranca, Peru
- Área: 18 estruturas identificadas
- Civilização anterior: Tradição Caral-Supe
Peñico antecede civilizações como os Incas e Maias, sendo contemporânea a sociedades do Egito e Mesopotâmia. Arqueólogos classificam seus habitantes como parte de “culturas arqueológicas”, baseando-se em evidências materiais.
Trajetória cronológica e independência civilizacional
A cidade foi habitada entre 1800 a.C. e 1500 a.C., o que a torna contemporânea de civilizações como, por exemplo, as do Egito, da Mesopotâmia, do Vale do Indo e anterior aos Dez Mandamentos. Contudo, diferentemente das sociedades mencionadas, Peñico desenvolveu-se de forma independente, sem qualquer contato conhecido com culturas afro-eurasiáticas.

Continuidade pós-Caral
Reconhecida como a mais antiga civilização urbana das Américas, Caral floresceu entre 3000 a.C. e 1800 a.C. Esta encontra-se a menos de duas horas de Peñico, que, a seu turno, surgiu logo após o declínio de Caral, o que pode significar uma reorganização sociopolítica e ambiental no espaço andino.
Em vez de uma ruptura abrupta, a fundação de Peñico pode ser interpretada como uma descentralização deliberada do modelo urbano anterior, privilegiando escalas arquitetônicas menores e maior integração regional entre diferentes paisagens e grupos populacionais.
- Arqueologia e História: clique aqui e conheça Conimbriga, uma cidade romana em Portugal.
Centro de trocas
Um dos elementos centrais do sítio é uma praça circular adornada com relevos representando pututus — instrumentos musicais feitos de conchas marinhas, usados em rituais cerimoniais. Esses elementos sugerem um espaço voltado à concertação política e espiritual, onde eram realizados encontros entre diferentes grupos regionais.
A presença de bens materiais vindos de regiões distantes revela um alcance geográfico que ultrapassa os limites do atual Peru.
- Sugestão de leitura (artigo): Sequestros e tráfico de escravizados na fronteira Brasil x Uruguai.
Ameaças à arqueologia e a pesquisadores
A arqueóloga Ruth Shady enfrenta ameaças recorrentes de grupos interessados em terras próximas aos sítios arqueológicos. Em Caral, ela e sua equipe foram alvo de intimidações, invasões com máquinas pesadas e ameaças de morte.
Esses ataques resultam da combinação entre ocupação territorial ilegal, ausência de fiscalização estatal e especulação imobiliária. Apesar dos riscos, a preservação segue graças à mobilização de arqueólogos e moradores da região.
Potenciais para as Ciências Humanas
A descoberta de Peñico abre frentes para pesquisas em arqueologia, história e antropologia, ao possibilitar investigações sobre:
- Respostas socioculturais frente a eventos climáticos
- Circuitos de trocas interligando ecossistemas distintos
- Funções simbólicas e sociais da arquitetura pré-colombiana
- Redes de poder entre elites e populações locais
Abertura ao público: 12 de julho de 2025
O governo peruano anunciou que Peñico será aberto oficialmente à visitação em 12 de julho de 2025, com cerimônia voltada a pesquisadores, autoridades e imprensa. A expectativa é impulsionar o turismo cultural e atrair projetos acadêmicos, incluindo parcerias internacionais.
Civilizações indígenas além dos Incas
É comum associar a história andina apenas ao Império Inca. Porém, civilizações como Maias, Astecas e povos amazônicos também organizaram centros urbanos. A descoberta de Peñico evidencia uma tradição urbana anterior aos Incas, igualmente complexa.
Essa revelação convida a ampliar o conhecimento histórico da América pré-colonial. Sua preservação dependerá de ação coordenada entre Estado, pesquisadores e sociedade civil.
FAQ – Perguntas Frequentes
- O que é Peñico?
Um centro urbano milenar recentemente descoberto no Peru, com cerca de 3.500 anos.
- Onde fica Peñico?
Na província de Barranca, Peru, próximo ao vale do rio Supe.
- Quando será aberta ao público?
Em 12 de julho de 2025.
Cite a matéria corretamente:
REVISTA TEMA LIVRE. Cidade indígena é descoberta por arqueólogos na América do Sul. Niterói, 9 jul. 2025. Disponível em: https://revistatemalivre.com/cidade-indigena-descoberta-arqueologos. Acesso em: [colocar a data].
Saiba mais sobre História e Arqueologia no Debate Tema Livre (vídeo abaixo)
Shorts da Revista Tema Livre: Israel vs Irã: saiba como começou a rivalidade em menos de 1 minuto.
Gostou do conteúdo? Compartilhe:
Para mais história:
Se inscreva no canal da Revista Tema Livre no YT:
https://youtube.com/revistatemalivre?sub_confirmation=1
Assista e compartilhe
Leia:
Além do Ipiranga: uma história muito mais complexa da Independência
Acesse a seção Notícias da Revista Tema Livre: clique aqui.
Confira a edição atual da Revista Tema Livre clicando aqui.
Neoliberalismo: História em 1 Minuto
golpe de 1964, ditadura militar, repressão, empresas, indígenas, UERJ
Como a ditadura brasileira foi construída, mantida e narrada? Nova coletânea analisa o golpe de 1964
Como a ditadura brasileira foi construída, mantida e narrada? Nova coletânea analisa o golpe de 1964 a partir de múltiplas perspectivas: repressão política, ensino de História, colaboração empresarial, justiça de transição e memória.
Leitura estimada: 6 minutos

Passadas seis décadas do golpe que depôs João Goulart, pesquisadores de universidades brasileiras e estrangeiras seguem ampliando os horizontes interpretativos sobre o regime militar. Neste contexto, foi lançada a coletânea “60 anos do golpe de 1964 e a ditadura no Brasil”, organizada por Gelsom Rozentino de Almeida, Maria Aparecida da Silva Cabral e Rafael Vaz da Motta Brandão, todos professores do Programa de Pós-Graduação em História (PPGHS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Resultado do seminário “Rastros da Verdade”, realizado em 2024 na Faculdade de Formação de Professores (FFP) da UERJ, situada na cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o livro reúne reflexões sobre autoritarismo, repressão, ensino de História, empresas, justiça de transição, violência no campo e iniciativas de história pública. Com 16 capítulos distribuídos ao longo de mais de 400 páginas, a obra expressa o compromisso da universidade pública com a memória crítica e a realização de pesquisa de excelência.
- Leia o artigo da historiadora Helena W. L. Ferreira intitulado “A reforma da previdência de 1998 como consequência da construção do discurso hegemônico pró-neoliberalismo“
Ditadura empresarial-militar
No prefácio, a historiadora Virgínia Fontes (UFF) define o golpe como parte de um projeto de classe, sustentado pela convergência entre elites econômicas e as Forças Armadas. O livro reforça esse diagnóstico ao evidenciar como o regime autoritário foi construído com o apoio ativo de setores empresariais, consolidando o conceito de ditadura empresarial-militar. Essa perspectiva permite compreender o autoritarismo não apenas como resultado da força das armas, mas também como fruto de alianças estratégicas entre poder econômico e repressão militar.
Arquivos, vítimas e justiça de transição
Além de militantes de esquerda, a repressão atingiu indígenas, quilombolas, estudantes, trabalhadores, dentre outros setores da sociedade. Essa abordagem contida em capítulos do livro amplia o escopo tradicional da historiografia sobre a ditadura militar, sendo possível esta análise em razão da produção de documentos por órgãos de repressão e iniciativas de sistematização da memória, como o projeto Brasil: Nunca Mais e os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade (CNV).
Educação e disputas pela memória
A coletânea também dedica espaço à forma como o regime militar foi narrado — e silenciado — nos espaços escolares. Os capítulos discutem os efeitos dos acordos MEC-USAID na estrutura educacional brasileira, a permanência de narrativas autoritárias nos livros didáticos e a importância da escuta de testemunhos como ferramenta histórica crítica.
Essa seção do livro evidencia que o ensino de História permanece um campo de disputa simbólica, no qual a produção de memória pode tanto reproduzir versões autoritárias quanto estimular processos de consciência crítica e emancipação.
Empresas e repressão: do conluio à cumplicidade documentada
Em vez de apresentar o empresariado como espectador passivo do regime, o livro revela como empresas nacionais e multinacionais atuaram diretamente na repressão política. O caso da Volkswagen do Brasil é emblemático: em 2020, a empresa firmou um acordo com o Ministério Público Federal e outras instituições após reconhecer que colaborou com a repressão durante a ditadura, inclusive ao permitir a prisão e tortura de trabalhadores dentro de sua fábrica em São Bernardo do Campo.
Como parte do termo, comprometeu-se a pagar indenização coletiva e a financiar ações de memória e reparação, entre elas o apoio ao Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF) da Unifesp, voltado à identificação de ossadas de desaparecidos políticos.
Outras companhias também aparecem como objeto de investigação: Fiat, Petrobras, CSN, Itaipu Binacional, Folha de S. Paulo e Embraer são citadas em estudos que apontam vínculos com práticas de vigilância e coerção. A análise demonstra que a repressão também se exerceu no ambiente de trabalho e que interesses empresariais moldaram parte das políticas autoritárias do período.
História pública, arte e mobilização social
A publicação dialoga ainda com experiências de história pública e engajamento cultural. O capítulo da pesquisadora argentina Victoria Basualdo (Conicet/FLACSO), baseado na conferência de abertura do seminário, apresenta iniciativas que articulam exposições, produções audiovisuais e arte como formas de enfrentamento ao silêncio imposto por regimes autoritários.
No Brasil, um exemplo concreto é a exposição “Rastros da Verdade”, realizada na FFP-UERJ, que mobilizou estudantes e professores da rede pública a partir do acervo da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro. O caso ilustra como ações de memória podem reforçar práticas pedagógicas democráticas e fomentar debates intergeracionais sobre justiça e reparação.
Uma obra necessária para o presente
Mais do que um livro acadêmico, “60 anos do golpe de 1964 e a ditadura no Brasil” é uma intervenção coletiva de pesquisadores pela formação crítica e contra o uso político da História. Em tempos de revisionismos, os autores reafirmam o papel das universidades públicas como espaços de produção de conhecimento de qualidade, baseado em rígidos critérios éticos, teóricos e metodológicos. Ao reunir análises interdisciplinares, a obra contribui para pensar as permanências do autoritarismo e os desafios da democracia brasileira.
Assista ao Debate Tema Livre com os organizadores do livro
“O golpe de 1964 e a ditadura militar no Brasil”
Capítulos e autores da coletânea
A obra está estruturada em cinco partes temáticas, que reúnem os seguintes capítulos:
Parte I – Ditadura, historiografia e debates conceituais
Memórias e histórias da ditadura em tempos de neofascismo bolsonarista, de Marcelo Badaró Mattos
A historiografia do golpe de 1964: perspectivas e debates sobre a participação civil, de Martina Spohr
Regime político no Brasil pós-64: uma discussão conceitual, de Renato Luís do Couto Neto e Lemos
Historia, memoria, arte y justicia: experiencias de comunicación y vinculación científica y tecnológica de investigaciones sobre responsabilidad empresarial en la represión dictatorial en Argentina y el Cono Sur, de Victoria Basualdo
Parte II – Memória, arquivos e políticas de reparação
Entre “esquecer” e “cantar as façanhas”: os discursos militares na abertura política, de Lucas Pedretti
Lutas, políticas de reparação e rastros documentais: reflexões sobre a escrita da história da ditadura, de Carla Simone Rodeghero
A exposição “Rastros da Verdade”: arquivos e memória da Comissão da Verdade do Rio na UERJ-FFP: estratégias para a educação em Direitos Humanos, ensino de História e promoção da democracia, de Maria Olívia Corrêa Bezerra, Maurício Mesquita Aragão e Rafael Vaz da Motta Brandão
Parte III – Ditadura, educação e ensino de História
Livro didático e ditadura, de Kazumi Munakata
Eu vivi, posso contar: testemunhos como argumento no ensino de História, de Helenice Aparecida Bastos Rocha e Rafael Monteiro de Oliveira Cintra
“Amanhã vai ser outro dia”: as contribuições do Ensino de História para pensar o golpe de 1964 no Brasil, de Maria Aparecida da Silva Cabral
Parte IV – Ditadura, repressão e luta armada
Presos políticos e comuns na Ilha Grande: o Museu do Cárcere/Ecomuseu Ilha Grande como lugar de memória da Ditadura Militar (1964–1985), de Gelsom Rozentino de Almeida
O golpe de 1964 e a ditadura na UERJ: repressão, colaboracionismo e resistência, de Rafael Vaz da Motta Brandão
Revolucionárias: a participação das mulheres nas esquerdas armadas brasileiras durante as décadas de 1960 e 1970, de Izabel Pimentel da Silva
Parte V – Militares, empresas, cumplicidade econômica e repressão a trabalhadores
Estádios públicos de futebol e a ditadura empresarial-militar brasileira, de João Manuel Casquinha Malaia Santos
Militares e empresas durante a ditadura: a presença de integrantes das Forças Armadas em cargos diretivos de companhias privadas durante o regime civil-militar, de Pedro Henrique Pedreira Campos
Estado, empresários e repressão: grilagem e expropriação camponesa no Maranhão durante a ditadura civil-militar, de Lidiane Friderichs e Monica Piccolo Almeida Chaves
Referência (ABNT):
ALMEIDA, Gelsom Rozentino de; CABRAL, Maria Aparecida da Silva; BRANDÃO, Rafael Vaz da Motta (org.). 60 anos do golpe de 1964 e a ditadura no Brasil: reflexões sobre passado e presente e novas agendas de pesquisa. Curitiba: CRV, 2025. Disponível em: https://editoracrv.com.br
Cite a matéria corretamente: REVISTA TEMA LIVRE. O golpe de 1964: pesquisadores analisam a ditadura em novo livro. Niterói, 2 jul. 2025. Disponível em: https://revistatemalivre.com/golpe-1964-ditadura-livro/ Acesso em: [colocar data de acesso].
Gostou do conteúdo? Compartilhe:
Para mais história:
Se inscreva no canal da Revista Tema Livre no YT:
https://youtube.com/revistatemalivre?sub_confirmation=1
Leia:
Acervo: entrevista do Prof. Dr. James N. Green à Revista Tema Livre
Além do Ipiranga: uma história muito mais complexa da Independência
Acesse a seção Notícias da Revista Tema Livre: clique aqui.
Confira a edição atual da Revista Tema Livre clicando aqui.
O século XX no canal da Revista Tema Livre no YouTube.
Assista às “Tema Lives”:
A História do Socialismo no Brasil.
Convidado: Prof. Dr. Alexandre Hecker (Unesp).
O 25 de Abril e a Revolução dos Cravos.
Convidado: Prof. Dr. Luis Reis Torgal (Universidade de Coimbra)
A Ditadura Uruguaia.
Convidado: Prof. Dr. Gerardo Caetano (Udelar)
La dictadura civil-militar en Uruguay.
Convidada: Prof.ª Dr.ª Magdalena Broquetas (Udelar)
Allende, Pinochet e a Ditadura Civil Militar no Chile.
Convidada: Prof.ª Dr.ª Adriane Vidal Costa (UFMG)
La dictadura civil-militar en Chile.
Convidado: Prof. Dr. Rolando Alvarez (USACH)
Podcasts Tema Livre:
História e fascismo.
Convidada: Prof.ª Dr.ª Heloísa Paulo (Universidade de Coimbra)
América Latina y su historia económica.
Convidado: Prof. Dr. Luis Bértola (Udelar)
Educar para dominar? O projeto colonial de controle das elites indígenas no século XVIII
Como a educação colonial tentou controlar indígenas no século XVIII? Historiadora revela estratégias de imposição e resistência.
Tempo estimado de leitura: 5 minutos
Ao se pesquisar a educação colonial de indígenas e suas instituições, poucas ilustram com tanta nitidez as ambivalências do colonialismo espanhol quanto os colégios voltados aos filhos de caciques. Mais do que espaços de ensino, eram instrumentos de catequese estratégica e tentativa de domesticação simbólica da alteridade.
A historiadora chilena Lucrecia Enríquez, professora da Pontificia Universidad Católica de Chile, explora esses campos de tensão em seu livro Educar para civilizar e integrar: colegios de hijos de caciques araucanos y clero indígena en Chile en el siglo XVIII, publicado pela UNAM.
Como a educação foi usada para dominar povos indígenas
A obra examina como o Império Espanhol tentou integrar elites nativas por meio da escolarização religiosa e linguística. A promessa de inclusão soava generosa, mas exigia a renúncia à identidade indígena:
“A promessa de ascensão social vinha sempre atrelada à renúncia da própria cultura, idioma e identidade. O indígena educado era, por definição, um indígena disciplinado à lógica imperial.” (Enríquez, 2024, p. 113)
À sombra da Cédula de Honores de 1697, que permitia o ingresso de indígenas em estudos superiores, operava-se uma política de “inclusão subordinada”. Ascendia-se apenas quem melhor encarnasse os valores da monarquia cristã.
- Como foi a atuação indígena na Cisplatina? Muitas vezes ignorada, o trabalho dos povos originários marcou capítulo da história do Brasil e de Portugal no rio da Prata. Leia o artigo do Prof. Dr. Fábio Ferreira (UFF) publicado no projeto Indígenas na História (Associação Nacional de História/ANPUH) clicando aqui.
Evangelizar ou dominar?
Mais do que formar súditos, o projeto colonial ambicionava criar um clero indígena que reproduzisse a ortodoxia espanhola dentro das próprias comunidades autóctones. Esse objetivo, no entanto, se deparava com resistências veladas:
“Aprendiam os códigos para negociar sua permanência, esconder seus afetos e simular conversão — tudo sob vigilância.” (Enríquez, 2024, p. 167)
Simular conversão para sobreviver
A retórica evangelizadora ocultava práticas de controle e disciplinamento. Os colégios, nesse sentido, eram menos instituições pedagógicas do que instrumentos políticos.
O que foi a Cédula de Honores de 1697?
Decreto emitido pela monarquia espanhola autorizando o ingresso de indígenas em instituições de ensino superior. Embora progressista no papel, funcionava como filtro cultural: só ascendia quem demonstrasse total adaptação aos valores coloniais europeus.
O fracasso dos colégios para indígenas
Fundado em 1785, o colégio de nobres indígenas de Chillán buscava formar um clero composto por indivíduos oriundos dos povos originários totalmente disciplinado — um elo entre fé e poder. Mas enfrentou evasões, conflitos internos e a hostilidade de elites espanholas locais. Muitos estudantes fugiam, outros resistiam passivamente, e havia constantes dificuldades financeiras.
A experiência tornou-se símbolo dos limites do projeto civilizador e do fracasso da integração pela imposição. Como mostra Enríquez, as famílias indígenas muitas vezes aceitavam o envio de filhos às escolas como estratégia de sobrevivência, não de assimilação.
- Sugestão de leitura (artigo): Sequestros e tráfico de escravizados na fronteira Brasil x Uruguai: estudo de casos posteriores a 1850.
Como os indígenas resistiram à educação colonial
A autora destaca que as elites indígenas não eram agentes passivos do processo. Ao contrário, desenvolveram formas de resistência simbólica, como a simulação da conversão, o abandono estratégico das escolas, a apropriação seletiva do conteúdo escolar e o uso político do bilinguismo.
Entre dois mundos
Essas práticas revelam uma agência complexa. A escolarização não eliminou as cosmologias indígenas, mas obrigou as elites a transitar entre mundos e códigos distintos, reinventando identidades em meio à violência simbólica da colonização.
 Comparações entre modelos coloniais de educação indígena
Comparações entre modelos coloniais de educação indígena
Enríquez contribui para uma historiografia que desafia o binarismo entre aculturação e resistência. Em comparação com casos como os da Nova Espanha e do Peru — onde colégios para indígenas foram mais institucionalizados —, o modelo chileno mostrou-se frágil, improvisado e instável.
A relativa autonomia indígena e a persistência da guerra de Arauco até o século XVIII dificultaram uma assimilação completa. Isso explica, em parte, a menor eficácia do projeto civilizador espanhol no território chileno.
Educação ou controle político?
O livro de Lucrecia Enríquez desmonta o mito de uma monarquia pedagógica e benevolente. A escolarização indígena era menos uma ferramenta de emancipação e mais uma tecnologia de poder. E, no entanto, mesmo sob vigilância, as elites nativas souberam negociar, contornar e, por vezes, sabotar o projeto colonial.
A história dos colégios de filhos de caciques permanece como uma janela para os conflitos e estratégias coloniais de assimilação e resistência — e, ao mesmo tempo, como um convite à reavaliação dos projetos de educação e poder nas Américas.

Leitura recomendada: Educar para civilizar e integrar, de Lucrecia Enríquez. Publicado pela UNAM (México), 2024. Baixe o livro gratuitamente clicando aqui (site da UNAM).
Como citar a matéria: REVISTA TEMA LIVRE. Historiadora analisa o controle dos indígenas através da educação. Niterói, 25 jun. 2025. Disponível em: https://revistatemalivre.com/educacao-colonial-indigenas/. Acesso em: (coloque a data).
Assista também à entrevista com a autora
Saiba mais sobre as populações indígenas na Revista Tema Livre
Para mais história:
Se inscreva no canal da Revista Tema Livre no YT:
https://youtube.com/revistatemalivre?sub_confirmation=1
Leia:
Além do Ipiranga: uma história muito mais complexa da Independência
Livro reúne pesquisadores em torno do tráfico de escravizados
Confira publicações da área de História na seção “livros”: clique aqui.
Acesse a seção Notícias da Revista Tema Livre: clique aqui.
Confira a edição atual da Revista Tema Livre clicando aqui.
Descubra como Irã e Israel passaram de aliados estratégicos a rivais regionais. Conheça os eventos históricos que explicam o atual antagonismo.
Niterói, 16 de junho de 2025.
Da Redação.
Tempo estimado de leitura: 5 minutos
No complexo cenário do Oriente Médio contemporâneo, poucos confrontos são tão emblemáticos quanto a tensão entre Irã e Israel. A rivalidade entre esses dois países, marcada por hostilidades abertas, retórica beligerante e conflitos indiretos, é frequentemente tratada como algo imutável e natural. Porém, para compreender as raízes desse antagonismo, é fundamental revisitar a história que antecede essa crise.
Aliados em um contexto global turbulento
Entre as décadas de 1950 e 1970, Irã e Israel mantiveram uma relação estratégica estreita e relativamente amistosa. Governado pelo xá Mohammad Reza Pahlavi — aliado dos Estados Unidos em meio ao contexto da Guerra Fria e empenhado em um processo de modernização e ocidentalização —, o Irã foi um dos primeiros países muçulmanos a reconhecer o recém-criado Estado de Israel, em 1948.
Essa aproximação contemplava interesses políticos e econômicos de ambos os lados. Para Tel Aviv, o relacionamento com Teerã representava uma forma de mitigar seu isolamento regional e garantir uma base de apoio num país de maioria muçulmana, ainda que não árabe. Já para o regime secular do xá, que buscava modernizar o país, reconhecer Israel tinha sentido estratégico e alinhava-se com a política externa pró-Ocidente. Além disso, Teerã, apoiado pelos EUA, via que Israel funcionava como um contrapeso político útil diante da pressão dos países árabes vizinhos e das forças nacionalistas que buscavam enfraquecer a influência ocidental na região.
- Saiba mais sobre o Oriente Médio: leia nossa seção de “Sala de aula: História“
Essa aliança era, em muitos aspectos, pragmática. Israel treinou especialistas iranianos em segurança e inteligência, enquanto o Irã manteve uma das maiores comunidades judaicas do Oriente Médio. Até a Revolução Islâmica de 1979, cerca de 20 mil judeus residiam no Irã, vivendo em relativa segurança e mantendo tradições culturais e religiosas.

A guinada revolucionária: o início dos conflitos Irã-Israel
O ano de 1979 marcou um ponto de inflexão complexo não apenas para o Irã, mas para toda a geopolítica do Oriente Médio. A Revolução Islâmica, liderada pelo aiatolá Ruhollah Khomeini, derrubou o regime do xá Pahlavi e instaurou uma teocracia baseada na doutrina xiita do vilayat-e faqih — o governo do jurista islâmico.
Essa mudança radical no poder significou o cancelamento imediato de todos os acordos e tratados com Israel. O Irã, agora governado por grupamento religioso que via o Ocidente e seus aliados de forma extremamente crítica, redefiniu sua política externa em termos ideológicos. Israel foi qualificado oficialmente como “regime sionista ilegítimo” e visto como uma ameaça existencial, sendo a eliminação do Estado israelense incorporada à retórica oficial do novo regime.
A nova república iraniana via no conflito árabe-israelense não apenas uma questão regional, mas um símbolo da luta contra o mundo ocidental e o imperialismo. Assim, o Irã começou a apoiar atores políticos que têm diferentes visões ideológicas, incluindo grupos militantes e milícias opositoras a Israel, como o Hezbollah no Líbano, o Hamas na Faixa de Gaza e grupos aliados na Síria e no Iémen. Este é mais um exemplo que ilustra as nuances e complexidade que caracterizam a política do Oriente Médio.
A escalada do conflito, a rivalidade duradoura e o programa nuclear iraniano
Durante a década de 1980, a rivalidade se materializou em confrontos indiretos e batalhas por influência regional. Quando Israel invadiu o sul do Líbano em 1982 para combater a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Teerã respondeu enviando sua Guarda Revolucionária para apoiar as milícias xiitas locais — um movimento que culminou na formação do Hezbollah, organização que permanece até hoje como um ator-chave no conflito com Israel.
Essa dinâmica de confrontos por procuração seguiu intensificando-se ao longo das décadas seguintes. O programa nuclear iraniano tornou-se um ponto central de tensão, uma vez que Israel e várias potências ocidentais manifestam receios quanto à possível utilização militar. O debate em torno dessa questão permanece complexo e central para a estabilidade regional.
O que é o programa nuclear iraniano?
Desde a década de 2000, o Irã desenvolve um programa nuclear oficialmente voltado à geração de energia e pesquisa científica. No entanto, potências ocidentais, incluindo Israel e EUA, suspeitam de intenções militares. O debate divide a comunidade internacional, envolve inspeções da AIEA e gera tensões diplomáticas recorrentes.
Reflexões sobre a história para além do conflito atual
Entender que as relações Irã e Israel já foram diferentes das atuais, ou seja, que no passado foram aliados estratégicos, permite desconstruir a ideia de uma inimizade eterna e imutável. O conflito entre os dois países é antes produto de questões históricas e ideológicas que moldaram o Oriente Médio e resultaram no atual quadro.
A história da relação entre Irã e Israel é um convite a refletir sobre como alianças internacionais são moldadas por interesses mutáveis, ideologias e mudanças políticas profundas. Revisitar essas trajetórias é fundamental para compreender os impasses atuais e, quem sabe, abrir espaço para diálogos futuros que transcendam o conflito.
“Gostou do conteúdo? Compartilhe ou deixe seu comentário abaixo.”
Amplie o conhecimento: TV Tema Livre
Para mais história:
Se inscreva no canal da Revista Tema Livre no YT:
https://youtube.com/revistatemalivre?sub_confirmation=1
Leia:
Além do Ipiranga: uma história muito mais complexa da Independência
Acesse a seção Notícias da Revista Tema Livre: clique aqui.
Confira a edição atual da Revista Tema Livre clicando aqui.
Niterói, 3 de junho de 2025.
A História perde uma de suas figuras de maior projeção internacional. Pierre Nora faleceu ontem (2 de junho), em Paris, aos 93 anos. A notícia foi divulgada por sua esposa, a jornalista Anne Sinclair, e confirmada por familiares à imprensa francesa.
Ao longo de sete décadas de atuação intelectual, Nora foi um dos protagonistas na renovação da história cultural e um dos responsáveis por consolidar o campo da história da memória na historiografia contemporânea. Sua obra reconfigurou a compreensão da identidade nacional francesa e deixou marcas profundas nos debates historiográficos da atualidade.
Infância, guerra e formação
Nascido em Paris, em 17 de novembro de 1931, Pierre Nora era filho do médico Gaston Nora e de Julie Lehman, ambos judeus. A família materna de Nora tinha conexões com os fundadores do banco de investimentos Lehman Brothers, criado nos Estados Unidos. Esse vínculo, no entanto, não impediu que sua família fosse alvo das perseguições nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.
Após frequentar o Lycée Louis-le-Grand, Pierre Nora formou-se em filosofia e, em 1958, foi aprovado na exigente agrégation d’histoire, concurso nacional que habilita professores ao ensino superior na França. Sua primeira experiência como docente foi na Argélia, no final dos anos 1950 — experiência que resultaria no livro Les Français d’Algérie (1961), uma análise crítica da identidade colonial e da memória francesa na região.
O arquiteto dos “lugares de memória”
A obra mais emblemática de sua trajetória é o monumental Les Lieux de Mémoire (Lugares de Memória), projeto que coordenou entre 1984 e 1992. Publicado em sete volumes e reunindo mais de 130 autores, o empreendimento mapeou os símbolos, espaços, textos e rituais nos quais a França cristalizou sua memória coletiva — como o Panteão, a Enciclopédia Larousse, a Tour de France e a Declaração dos Direitos do Homem.
O projeto nasceu da constatação de que, na modernidade, a memória coletiva deixou de ser orgânica e espontânea, como ocorria nas sociedades tradicionais. Para Nora, os “lugares de memória” surgem justamente quando a transmissão viva da memória se enfraquece — tornando necessário fixá-la em espaços materiais, cerimônias, arquivos ou museus.
Editor, mediador e figura pública
Muito além de pesquisador, Pierre Nora também foi editor e mediador de debates públicos. Na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), onde ingressou em 1977 como diretor de estudos, coordenou seminários decisivos sobre memória, identidade e narrativa histórica. Também lecionou no Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po), onde consolidou sua reputação como grande pedagogo.
Na Gallimard, editora à qual esteve vinculado desde os anos 1960, fundou coleções fundamentais em ciências humanas, como a Bibliothèque des sciences humaines e a Bibliothèque des histoires. Dirigiu ainda a coleção Archives na editora Julliard e, com Jacques Le Goff, foi coorganizador da influente trilogia Faire de l’histoire (1974), um marco da chamada “nova história” francesa.
Em 1980, fundou com o filósofo Marcel Gauchet a revista Le Débat, espaço que dirigiu por quatro décadas e que se afirmou como uma das mais influentes publicações intelectuais da França. A revista buscava distanciar-se tanto do marxismo dogmático quanto do relativismo pós-moderno. Em 2001, foi eleito membro da Academia Francesa.
Conflitos, engajamentos e legado
Figura de grande influência, Nora não escapou a controvérsias. Em sua trajetória editorial, por exemplo, recusou a publicação de A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm — escolha que mais tarde reconheceu como um erro. Foi também um dos críticos mais severos das chamadas leis memorais na França, como a lei Gayssot, que criminaliza a negação do Holocausto. Segundo ele, tais legislações comprometeriam a liberdade de pesquisa histórica. Em resposta, fundou em 2008 a associação Liberté pour l’Histoire, que presidiu até seus últimos anos.
Nora defendia a independência dos historiadores frente às agendas ideológicas ou políticas. Embora frequentemente classificado como um homem da centro-esquerda, seu pensamento se caracterizava por um ceticismo republicano e uma defesa firme das instituições democráticas contra radicalismos de qualquer espectro.
Um intelectual da França livre
Como sintetizou o Le Figaro, Nora era “um cidadão republicano, laico e duro”, comprometido com o espírito crítico e o pluralismo. Para o Público, de Portugal, sua trajetória marca o ponto de transição entre a era dos grandes compromissos ideológicos e o tempo das disputas em torno da memória, da identidade e do papel público do historiador.
Sua obra, marcada pela abertura intelectual, pela sensibilidade histórica e pela inquietação com os usos políticos do passado, continuará sendo fonte essencial para quem busca compreender como as sociedades narram — e disputam — suas memórias.
Ouça o podcast revistatemalivre.com sobre os intelectuais franceses: convidado, François Dosse.
Assista às entrevistas da nossa playlist História e Historiografia:
- François Hartog
- Angela de Castro Gomes
- Ouça o podcast revistatemalivre.com que tem como convidado Robert Darton
Para mais história:
Se inscreva no canal da Revista Tema Livre no YT:
https://youtube.com/revistatemalivre?sub_confirmation=1
Leia:
Além do Ipiranga: uma história muito mais complexa da Independência
Acesse a seção Notícias da Revista Tema Livre: clique aqui.
Confira a edição atual da Revista Tema Livre clicando aqui.
Leia a entrevista concedida pelo Prof. Dr. Peter Burke à Revista Tema Livre clicando aqui.
Da Redação
Niterói, 8 de fevereiro de 2025
Situado na região central de Niterói, próximo ao porto da cidade, um edifício se destaca por sua importância histórica: o Mercado Municipal. Fundado em 1938, este espaço, que já foi um dos mais importantes centros de abastecimento do Brasil, transcende sua função original para se tornar símbolo da identidade niteroiense e, também, de todo o estado do Rio de Janeiro, já que o Mercado recebeu o título de patrimônio histórico, gastronômico e turístico estadual em razão da lei nº 10.259/2024 de autoria da deputada estadual Verônica Lima.
Ainda que o reconhecimento à relevância do Mercado seja de lei aprovada em 2024, a cerimônia no prédio histórico em razão do título ocorreu ontem (7 de fevereiro) e contou com a execução do hino nacional e com a participação de várias autoridades dos âmbitos municipal, estadual e federal.
Um Palimpsesto Urbano

O Mercado Municipal é um palimpsesto urbano, ou seja, um local onde diferentes camadas de história se sobrepõem e se interligam. Sua arquitetura traz fortes influências neoclássicas e art déco, sendo mais um exemplar do período designado como “Renascença Fluminense”, quando buscava-se modernizar a então capital do Estado do Rio, a cidade de Niterói.
Além disso, o Mercado é o lugar no qual diferentes gerações de niteroienses e turistas se encontram, histórias são contadas e recontadas e a memória da cidade é preservada e transmitida ao público. Vale lembrar que à altura de sua inauguração, o Mercado contou com a presença do então presidente da República, Getúlio Vargas. Décadas depois, em 1976, as atividades do Mercado encerraram-se e, em seguida, o imóvel tornou-se o Depósito Público Estadual.
Em 2023, o Mercado Municipal foi reaberto ao público e, hoje, conta com mais de 150 lojas em um espaço de mais de 9.700 m², que, com certeza, merecem ser desfrutados pela população fluminense, bem como pelos turistas que visitam Niterói.
Endereço
Rua Santo Antônio, 53 – Centro/Niterói
Funcionamento
De segunda a domingo
1° piso: 09h às 21h
2° piso: 11h às 23h
Saiba mais sobre a região que o Mercado Municipal encontra-se, inclusive em seus aspectos históricos e culturais no vídeo abaixo.
Niterói na Revista Tema Livre:
É inaugurado novo centro cultural em Niterói. Saiba clicando aqui.
Evento na UFF recebe o historiador francês Roger Chartier
Músico niteroiense Sergio Mendes dará nome a complexo cultural de sua cidade natal
Novos sítios arqueológicos são descobertos no litoral fluminense
Niterói em cartões postais: para vê-los, clique aqui.
Niterói em fotos antigas: clique aqui.
Restauração do prédio da Cantareira deve ser iniciada ainda neste ano
É lançado, em Niterói, livro sobre a História do SUS
Para mais história:
Se inscreva no canal da Revista Tema Livre no YT:
https://youtube.com/revistatemalivre?sub_confirmation=1
Leia:
Além do Ipiranga: uma história muito mais complexa da Independência
Acesse a seção Notícias da Revista Tema Livre: clique aqui.
Acesse o site “Tudo Sobre Niterói” clicando aqui.
Confira a edição atual da Revista Tema Livre clicando aqui.